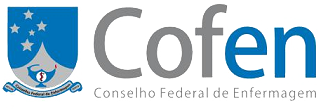0164/2025 - Análise das tendências das comorbidades associadas à mortalidade por HIV no Brasil, 2000 a 2022: Estudo ecológico
Trends in Comorbidities Associated with HIV Mortality in Brazil, 2000 to 2022: An Ecological Study
Autor:
• Ana Paula da Cunha - Cunha, AP - <cunhaenf2010@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1400-1472
Coautor(es):
• Marly Marques da Cruz - Cruz, MM - <marlycruz12@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4061-474X
Resumo:
O objetivo foi analisar as tendências das comorbidades associadas à mortalidade por HIV no Brasil de 2000 a 2022. Estudo ecológico de séries temporais que utilizou dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, incluindo todos os óbitos registrados com os códigos B20 a B24 da CID-10. As comorbidades foram classificadas de acordo com os capítulos da CID-10. Foram calculadas taxas de mortalidade padronizadas pelo método direto. As tendências foram analisadas pela regressão de Prais-Winsten. A taxa média de mortalidade foi 6,40 óbitos por 100.000 habitantes, a de condições definidoras foi 5,71 óbitos por 100.000 habitantes e a de condições não definidoras foi 0,65 óbitos por 100.000 habitantes. Observou-se tendência decrescente apenas para as doenças infecciosas no Brasil (APC = -2,94; p valor < 0,001), padrão este que não foi verificado em alguns estados das regiões Norte e Nordeste que tiveram tendência crescente. Observou-se tendência crescente para as neoplasias (APC = 4,69; p = 0,002) e para as doenças circulatórias (APC = 6,97; p = 0,002) no Brasil. Apesar da tendência decrescente da mortalidade por condições definidoras no Brasil, ainda se observam elevadas taxas de mortalidade por essas causas e tendência crescente em alguns estados.Palavras-chave:
Mortalidade; HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Estudos de séries temporais; Comorbidades.Abstract:
The objective was to analyze trends in comorbidities associated with HIV-related mortality in Brazil from 2000 to 2022. This ecological time-series study used data from the Mortality Information System, including all deaths recorded under ICD-10 codes B20 to B24. Comorbidities were classified according to ICD-10 chapters. Age-standardized mortality rates were calculated using the direct method. Trends were analyzed using Prais-Winsten regression. The average mortality rate was 6.40 deaths per 100,000 inhabitants; for AIDS-defining conditions, the rate was 5.71 deaths per 100,000 inhabitants; and for non-AIDS-defining conditions, 0.65 deaths per 100,000 inhabitants. A decreasing trend was observed only for infectious diseases in Brazil (APC = -2.94; p-value < 0.001), a pattern not observed in some states in the North and Northeast regions, where increasing trends were identified. Neoplasms showed an increasing trend (APC = 4.69; p-value = 0.002), as did circulatory diseases (APC = 6.97; p-value = 0.002) in Brazil. Despite the overall decreasing trend in mortality from AIDS-defining conditions, high mortality rates from these causes persist, with increasing trends in some states.Keywords:
Mortality; HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Time-series studies; Comorbidities.Conteúdo:
Em 2023, aproximadamente 630.000 pessoas morreram devido a condições relacionadas ao HIV em todo o mundo, representando uma redução significativa de 68,5% em relação ao pico registrado em 2004, quando 2 milhões de óbitos foram atribuídos à doença 1. Apesar dessa redução global, as taxas de mortalidade permanecem elevadas em países de baixa e média renda, como os da África Subsaariana, Europa Oriental, Ásia Central, América Latina, Oriente Médio e Norte da África2. Nessas regiões, as desigualdades no acesso a intervenções eficazes e a cuidados de saúde, agravadas por desafios estruturais e financiamento insuficiente, continuam a dificultar uma redução mais significativa das mortes relacionadas ao HIV 3,4 .
No Brasil, entre 1980 e 2022, foram registradas 382.521 mortes por causas relacionadas ao HIV 5. Observou-se uma queda nas taxas de mortalidade por HIV entre 2012 e 2022; em 2012, a taxa de mortalidade era de aproximadamente 5,6 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto em 2022 essa taxa caiu para cerca de 4,1 óbitos por 100 mil habitantes, representando uma redução de aproximadamente 26,8% 5.
A região Sudeste concentrou a maior parte desses óbitos, representando 37,7% do total, seguida pela região Nordeste com 23,7%, e pela região Sul com 19,4%. As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram 12,1% e 7,1% dos óbitos, respectivamente 5.
A mortalidade entre pessoas vivendo com HIV está frequentemente associada a comorbidades 6, que podem ser classificadas como definidoras de aids (como tuberculose e infecções oportunistas) ou não definidoras (como neoplasias e doenças cardiovasculares) 7. Cabe apontar que, enquanto as comorbidades definidoras estão mais associadas à progressão do HIV para a fase mais avançada (aids), as não definidoras refletem o impacto do envelhecimento e de condições crônicas em pessoas vivendo com HIV, mesmo na era da TARV 8,9,10.
No Brasil, a disponibilidade da terapia antirretroviral (TARV) a partir de 1996, de forma universal e gratuita, contribuiu para a redução da incidência de doenças oportunistas e a diminuição da necessidade de internações hospitalares entre as pessoas vivendo com HIV 11,12.
No entanto, o acesso desigual a esses tratamentos e aos serviços de saúde entre as diferentes regiões do país contribui para variações na evolução clínica das pessoas vivendo com HIV. Fatores estruturais, como pobreza e desigualdades regionais, ampliam as lacunas na organização dos serviços de saúde, dificultando a prevenção e o manejo dessas condições, contribuindo para a persistência da mortalidade por condições definidoras de aids 13,14,15.
Diante do exposto, a compreensão das tendências das comorbidades associadas à mortalidade por HIV no Brasil é essencial para revelar padrões que refletem desigualdades regionais e lacunas no acesso aos cuidados em saúde. Essas comorbidades, não apenas complicam a evolução clínica de pessoas vivendo com HIV, mas também são amplamente influenciadas por fatores estruturais.
Ao investigar essas tendências, este estudo busca evidenciar como as condições associadas ao HIV afetam a mortalidade ao longo do tempo e em diferentes contextos regionais, permitindo avaliar os efeitos das políticas públicas, como a universalização da terapia antirretroviral (TARV). Os resultados deste estudo poderão subsidiar intervenções voltadas para a redução das taxas de mortalidade, com foco na equidade em saúde e na melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV.
Este estudo teve por objetivo analisar as tendências das comorbidades associadas à mortalidade por HIV no Brasil, no período de 2000 a 2022.
Método
Tipo de estudo
Estudo ecológico de séries temporais das taxas padronizadas de mortalidade por HIV de acordo com os capítulos da 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). As unidades de análise deste estudo foram as Unidades da Federação (UF) e o país.
População
Foram incluídos todos os óbitos por HIV registrados entre os anos 2000 e 2022 no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), contendo os códigos B20 a B24 da CID-10 como causa básica ou associada.
Critérios de inclusão
Os critérios de inclusão adotados neste estudo foram: registros de óbitos que apresentavam os códigos B20 a B24 da CID-10 nas linhas A, B, C, D e parte II da declaração de óbito (DO); óbitos ocorridos entre 2000 e 2022 em todas as Unidades da Federação do Brasil; e registros completos com variáveis sociodemográficas e clínicas relevantes para o estudo.
Variáveis do estudo
A caracterização da população analisada no período foi feita a partir das proporções por sexo (feminino e masculino), faixa etária (0 a 19 anos, 20 a 59 anos e 60 anos ou mais), estado civil (casados e não casados) e raça/cor (negros e não negros).
Quanto às variáveis que se referiram às comorbidades, foram utilizados os seguintes capítulos da CID-10 para representá-las: infeciosas, circulatórias, digestivas, endócrinas, neoplasias, genitourinárias, respiratórias e outras doenças.
Coletas nas bases de dados e processamento dos dados
Foram utilizados os microdados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), que foram obtidos na seção “Serviços” do sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Nessa seção foi acessada a opção "Transferência/Download de Arquivos", onde foram localizados e baixados os arquivos correspondentes ao SIM, em agosto de 2024. Esse processo foi realizado por dois pesquisadores experientes, treinados em análise de bases secundárias e na utilização de sistemas do DATASUS.
Na etapa de processamento dos dados foram considerados os óbitos com registros dos CID B20 a B24, que se referem ao grupo “Doença pelo vírus da imunodeficiência humana, em pelo menos um dos seguintes campos: causa básica, linhas A, B, C, D e parte II. Em seguida, considerando que a DO pode ter mais de um CID registrado, foram rastreados os códigos B20 a B24 presentes em pelo menos um dos campos mencionados. Dessa forma, foram identificados os óbitos relacionados a este grupo, independentemente da causa básica ou associada.
Após essa etapa, os demais CID presentes nos registros de óbitos de B20 a B24 foram agrupados segundo os capítulos da CID-10, considerando aqueles que tiveram maiores proporções, a saber: infecciosas, circulatórias, digestivas, endócrinas, neoplasias, genitourinárias, respiratórias e outras doenças, esta última categoria contemplando todos os CID restantes devido à baixa proporção identificada conforme os seus respectivos capítulos da CID-10.
As doenças infecciosas contemplaram as condições definidoras de aids, enquanto as não definidoras englobaram as demais, a saber: circulatórias, digestivas, endócrinas, neoplasias, genitourinárias, respiratórias e outras doenças.
No caso das neoplasias, foi adotada uma distinção na classificação, sendo consideradas as neoplasias definidoras da aids aquelas reconhecidas como marcadoras da síndrome, como o linfoma não-Hodgkin (C83-C85), o sarcoma de Kaposi (C46) e o câncer cervical invasivo (C53), as quais foram incluídas no grupo das doenças definidoras da aids. As demais neoplasias (como câncer de pulmão, fígado, estômago, entre outros) foram classificadas como condições não definidoras, compondo o grupo de causas associadas ao HIV, mas que não caracterizam o estágio de aids.
Foram calculadas as taxas padronizadas de mortalidade de acordo com os capítulos supracitados. Utilizou-se o método direto para a padronização das taxas, considerando a população do Brasil como padrão 16. A padronização das taxas teve como objetivo ajustar o efeito da idade sobre a taxa de mortalidade, utilizando uma população de distribuição etária conhecida, onde foram aplicados os pesos reconhecidos pela proporção de pessoas em cada faixa etária na população-padrão.
Os dados populacionais para o cálculo das taxas de mortalidade, de acordo com os capítulos da CID-10 selecionados, foram as estimativas disponibilizadas pelo DATASUS a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em agosto de 2024.
As buscas, extrações e análises foram realizadas por dois pesquisadores com experiência prévia em estudos ecológicos baseados em dados secundários provenientes de sistemas nacionais de informação em saúde, como o SIM. Ambos os pesquisadores participaram ativamente do delineamento do estudo, definição das variáveis, padronização dos filtros de busca e validação dos dados extraídos.
As atividades foram conduzidas em dupla, de forma independente, com posterior conferência para resolução de eventuais divergências por consenso. Os pesquisadores também passaram por treinamento prévio relacionado ao uso de bases do SIM, à categorização das causas de morte segundo a CID-10 e à condução de estudos ecológicos, com o objetivo de garantir padronização dos procedimentos e fidedignidade dos dados analisados.
Análise estatística
A partir dos dados organizados e padronizados, foi aplicada a análise estatística para investigar as tendências de mortalidade por HIV ao longo do período estudado. Para a análise de tendências, foi aplicado o modelo de regressão linear generalizado de Prais-Winsten17. As variáveis independentes (X) correspondem aos anos em que os óbitos ocorreram, e as variáveis dependentes (Y) referiram-se às taxas de mortalidade padronizadas.
O objetivo da aplicação desse modelo foi a correção da autocorrelação serial das séries temporais. A primeira etapa de operacionalização desse modelo foi a aplicação do teste de Durbin-Watson, onde o valor do teste é avaliado a partir de uma escala que varia de 0 a 4, senfo que os valores próximos a 4 indicam autocorrelação serial negativa enquanto os valores próximos a 2 indicam a inexistência de autocorrelação serial.
Posteriormente, foi aplicada a transformação logarítmica das taxas para reduzir a heterogeneidade da variância dos resíduos do modelo. Após o ajuste, foi aplicado o modelo autorregressivo de Prais-Winsten para estimar os valores de b1 das taxas padronizadas de mortalidade, que se referem à inclinação da reta. Para os valores de b1, foi aplicada a fórmula de cálculo da Anual Percentage Change (APC), em tradução livre denominada como Taxa de Variação Anual:
APC: [-1+ eb1]*100%
A partir da APC foi possível mensurar a taxa de variação e, assim, verificar as tendências. Neste modelo, a APC positiva corresponde tendência crescente, enquanto a negativa indica uma tendência decrescente. Por fim, a série temporal foi classificada como estacionária quando não se identificou diferença significativa entre o seu valor e zero 17.
Também foram calculados os intervalos de confiança de 95% (IC95%) das medidas a partir da aplicação da fórmula abaixo:
IC95% = [-1+10bmínimo] *100%; [-1+10bmáximo] *100%
Os valores mínimos e máximos de b foram extraídos a partir dos parâmetros de IC95% gerados pelo programa de análise estatística e aplicados na fórmula.
Para a obtenção dos resultados e construção da análise foi utilizado o programa Rstudio versão 4.0.2 nas etapas de organização dos dados, cálculo das taxas, análise de tendências e gráficos. Considerou-se o nível de significância de 5% para no modelo de Prais-Winsten para a análise de tendências nesta investigação.
Aspectos éticos
Este estudo utilizou dados secundários de acesso público e anonimizado, garantindo o cumprimento das diretrizes éticas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Mesmo assim, houve liberação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (CEP/ENSP/Fiocruz) sob o parecer nº 16/2020.
Resultados
Entre 2000 e 2022, foram registrados 288.080 óbitos por HIV em pelo menos um dos campos da declaração de óbito que contém o código CID (causa básica, linhas A, B, C, D e parte II). Os resultados indicam que, no País, a maioria dos óbitos por HIV ocorreu entre indivíduos do sexo masculino, com 66,65% (n=192.053).
Em termos de distribuição etária, observa-se que a maior proporção dos óbitos foi registrada entre aqueles com 60 anos ou mais, com 56,79% (n=163.565), seguidos por aqueles entre 20 e 59 anos, com 42,70% (n=122.979), enquanto apenas 0,51% (n=1.536) dos óbitos ocorreram entre indivíduos entre 0 e 19 anos.
Em relação ao estado civil, 75,03% (n=216.122) dos óbitos ocorreram entre os não casados. No que se refere à variável raça/cor, 49,20% (n=141.747) dos óbitos foram entre negros (45,44%, n=130.926), enquanto os demais ocorreram entre não negros ou foram classificados como ignorados (Figura 1).
Fig.1
As condições definidoras de aids corresponderam, em média, a 89,34% dos óbitos relacionados à infecção no período analisado, enquanto as condições não definidoras representaram 10,66%. A taxa média de mortalidade por HIV foi de 6,40 óbitos por 100.000 habitantes, sendo 5,71 óbitos por 100.000 habitantes atribuídos a condições definidoras e 0,65 óbitos por 100.000 habitantes às condições não definidoras (Figura 2).
As taxas mais elevadas foram observadas entre as doenças infecciosas. Os estados que apresentaram as maiores taxas médias foram Amazonas (8,68 óbitos por 100.000 habitantes), Roraima (9,27 óbitos por 100.000 habitantes), Pará (7,80 óbitos por 100.000 habitantes) e Maranhão (5,39 óbitos por 100.000 habitantes).
No período de 2000 a 2022, o Brasil apresentou uma redução significativa nas taxas de mortalidade por doenças infecciosas associadas ao HIV (APC = -2,94; IC95%: -3,71; -2,10, p_valor < 0,001) (Figura 2).
Entre os estados, as maiores reduções foram observadas em Minas Gerais (APC = -4,12; IC95%: -4,81; -3,41, p_valor < 0,001), Rio de Janeiro (APC = -3,43; IC95%: -4,27; -2,59, p_valor < 0,001) e São Paulo (APC = -6,73; IC95%: -7,16; -6,30, p_valor < 0,001). Santa Catarina (APC = -4,01; IC95%: -5,42; -2,58, p_valor < 0,001), Rio Grande do Sul (APC = -2,70; IC95%: -4,25; -1,12, p_valor = 0,003) e Distrito Federal (APC = -4,95; IC95%: -5,62; -4,29, p_valor < 0,001) também registraram quedas expressivas (Figura 2).
Por outro lado, verificou-se uma tendência crescente nas taxas de mortalidade por doenças infecciosas nos estados das regiões Norte e Nordeste, evidenciando desigualdades regionais ao longo do período analisado (Figura 2).
As doenças circulatórias, por sua vez, evidenciaram um aumento discreto no Brasil (APC = 6,98; IC95%: 3,04; 11,1; p_valor = 0,002). Apesar disso, algumas reduções mais expressivas foram observadas em Roraima (APC = -5,39; IC95%: -9,35; -1,25; p_valor = 0,019), Amapá (APC = -6,4; IC95%: -8,8; -3,88; p_valor < 0,001) e Tocantins (APC = -8,30; IC95%: -13,5; -2,77; p_valor = 0,009). Sergipe foi o único estado com tendência decrescente significativa no período analisado (APC = -7,74; IC95%: -14,16; -0,84; p_valor = 0,040) (Figura 2).
Figura 2: Séries históricas, intervalos de confiança e tendências das taxas de mortalidade de acordo com doenças infeciosas e circulatórias, 2000 a 2022
Fig. 2
As taxas de mortalidade por doenças digestivas e endócrinas associadas ao HIV permaneceram inferiores a 1,5 óbitos por 100.000 habitantes em todo o Brasil entre 2000 e 2022. Roraima apresentou as taxas mais elevadas nesses grupos em determinados anos da série, com 0,13 óbitos por 100.000 habitantes para doenças digestivas e 0,10 óbitos por 100.000 habitantes para doenças endócrinas, em comparação aos demais estados (Figura 3).
Para doenças digestivas, alguns estados apresentaram quedas significativas, como Paraíba (APC = -14,99; IC95%: -18,32; -11,53; p_valor < 0,001), Distrito Federal (APC = -12,45; IC95%: -17,18; -7,44; p_valor < 0,001) e Piauí (APC = -15,46; IC95%: -21,59; -8,85; p_valor < 0,001) (Figura 3).
As doenças endócrinas evidenciaram redução mais expressiva no Ceará (APC = -18,7; IC95%: -26,78; -9,71; p_valor < 0,001). Por outro lado, Pernambuco (APC = 6,13; IC95%: 2,37; 10,02; p_valor = 0,004) e Santa Catarina (APC = 3,71; IC95%: 1,39; 6,09; p_valor = 0,005) exibiram tendências crescentes, indicando variações regionais importantes (Figura 3).
Figura 3: Séries históricas, intervalos de confiança e tendências das taxas de mortalidade de acordo com doenças digestivas e endócrinas, 2000 a 2022
Fig. 3
As neoplasias apresentaram taxas de mortalidade associadas ao HIV inferiores a 0,8/100.000 óbitos por 100.000 habitantes (Figura 4). No Brasil foi observada tendência crescente (APC = 4,70, IC95%: 2,00;7,46, p_valor = 0,002), assim como em Pernambuco (APC = 11,20, IC95%: 7,82; 14,69, p_valor <0,001), Paraná (APC = 8,12, IC95%: 6,10; 10,17, p_valor <0,001) e Rio Grande do Sul (APC = 5,64, IC95%: 3,05; 8,29, p_valor <0,001) (Figura 4).
Nas doenças geniturinárias associadas ao HIV, as taxas de mortalidade apresentaram quedas significativas em estados como Maranhão (APC = -15,79; IC95%: -21,51; -9,64; p_valor < 0,001), Rio Grande do Norte (APC = -13,61; IC95%: -21,85; -4,50; p_valor = 0,009) e Bahia (APC = -12,78; IC95%: -21,26; -3,38; p_valor = 0,016). Por outro lado, Pernambuco exibiu uma tendência crescente nas taxas (APC = 8,97; IC95%: 2,76; 15,56; p_valor = 0,009) (Figura 4).
Figura 4: Séries históricas, intervalos de confiança e tendências das taxas de mortalidade de acordo com doenças neoplásicas e genitourinárias, 2000 a 2022
Fig. 4
Os óbitos por doenças respiratórias foram mais expressivos em Rondônia (0,06 óbitos por 100.000 habitantes), Acre (0,04 óbitos por 100.000 habitantes), Roraima (0,03 óbitos por 100.000 habitantes), Pará (0,06 óbitos por 100.000 habitantes), Amapá (0,03 óbitos por 100.000 habitantes) e Mato Grosso (0,15 óbitos por 100.000 habitantes) e, quanto aos óbitos por outras doenças, os estados com as taxas mais elevadas foram Rondônia (0,07 óbitos por 100.000 habitantes), Roraima (0,02 óbitos por 100.000 habitantes) e Amapá (0,07 óbitos por 100.000 habitantes) (Figura 5).
Verificou-se que Rondônia (APC = -9,22, IC95%: -13,4;-4,75, p_valor <0,001), Mato Grosso (APC = -12,19, IC95%:-15,91;-8,32, p_valor <0,001), Pará (APC = -7,69, IC95%:-12,94.-2,12, p_valor = 0.014) e Tocantins (APC = -7,31, IC95%:-13,45, 0,73, p_valor = 0.042) apresentaram taxas decrescentes ao logo do período (Figura 5).
Para as demais condições associadas ao HIV, o Brasil apresentou uma tendência crescente nas taxas de mortalidade (APC = 4,70; IC95%: 2,00; 7,46; p_valor = 0,002). Destacaram-se Pernambuco (APC = 11,20; IC95%: 7,82; 14,69), Paraná (APC = 8,12; IC95%: 6,10; 10,17) e Goiás (APC = 7,99; IC95%: 5,66; 10,36) com aumentos significativos. Em contrapartida, a Paraíba (APC = -13,74; IC95%: -18,96; -8,18), o Amazonas (APC = -10,60; IC95%: -16,52; -4,26) e o Piauí (APC = -10,95; IC95%: -17,59; -3,77) apresentaram quedas expressivas nas taxas de mortalidade (Figura 5).
Figura 5: Séries históricas, intervalos de confiança e tendências das taxas de mortalidade de acordo com doenças respiratórias e outras doenças, 2000 a 2022
Fig. 5
Discussão
Os resultados deste estudo evidenciaram disparidades regionais e mudanças no perfil de mortalidade por HIV no Brasil entre 2000 e 2022. Apesar da redução nacional das taxas de mortalidade por condições definidoras de aids, o aumento observado em estados das regiões Norte e Nordeste evidencia desigualdades estruturais no acesso e na eficácia das intervenções de saúde. Esses achados reforçam padrões identificados em outras pesquisas nacionais e internacionais que associam desigualdades regionais ao acesso desigual à terapia antirretroviral (TARV) e à fragmentação dos serviços de saúde 14,18.
Este estudo evidenciou que as condições definidoras continuam a ser a principal causa de óbito entre as pessoas vivendo com HIV, mesmo com o avanço da TARV. Esses achados estão alinhados com estudo que analisou a tendência temporal da mortalidade por condições definidoras e não definidoras de aids no Brasil entre 2000 e 2018. A pesquisa revelou que, embora as condições definidoras apresentassem as taxas mais elevadas, houve uma tendência decrescente de mortalidade associada a essas condições, enquanto as condições não definidoras mostraram uma tendência crescente, indicando uma transição no perfil de mortalidade ao longo do tempo 7.
Padrão semelhante foi identificado em estudo que realizado no Rio de Janeiro entre 1999 e 2015, que apontou as condições definidoras de aids como uma das principais causas de morte entre pessoas vivendo com HIV, destacando sua persistência ao longo do tempo como um fator significativo na mortalidade dessa população 19.
No cenário internacional, uma coorte realizada na América do Norte, Europa e Ásia entre 2000 e 2022 acompanhou 189.301 pessoas vivendo com HIV e evidenciou uma redução nas taxas de mortalidade por condições definidoras entre aquelas em TARV. Entretanto, disparidades persistiram entre diferentes grupos populacionais, com 32% das mortes ainda atribuídas a condições definidoras de aids, destacando a necessidade de ampliar o acesso ao tratamento para reduzir ainda mais esses óbitos 14. De forma similar, um estudo realizado na Tailândia entre 2014 e 2019 indicou a persistência dessas doenças como causas de mortalidade, associadas principalmente à ausência de acesso adequado ao tratamento 13.
Além das disparidades observadas para as condições definidoras, os resultados deste estudo destacaram a importância de analisar também as condições não definidoras de HIV, como as doenças circulatórias, que emergem como uma causa significativa de mortalidade em pessoas vivendo com HIV no Brasil. A tendência crescente observada nas taxas de mortalidade por essas condições neste estudo aponta para a transição do perfil de mortalidade.
As taxas de mortalidade por doenças circulatórias mostraram tendência crescente no Brasil e na maioria dos estados. A tendência crescente observada nas taxas de mortalidade por essas condições neste estudo indica uma transição no perfil de mortalidade, onde as complicações crônicas, como doenças cardiovasculares, desempenham um papel crescente. Esse achado está alinhado com uma investigação realizada na Carolina do Sul, Estados Unidos, entre 2006 e 2019, que acompanhou 9.082 adultos diagnosticados com HIV.
Esse estudo evidenciou que, apesar da redução no risco de doenças cardiovasculares associada à manutenção de altos níveis de células CD4 e à supressão viral efetiva, as doenças circulatórias continuam a representar um desafio para o manejo da saúde de pessoas vivendo com HIV, contribuindo de forma relevante para a mortalidade nessa população 20.
Outro estudo realizado nos Estados Unidos demonstrou que as pessoas vivendo com HIV apresentam um risco elevado de insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e hospitalização por doenças cardiovasculares, quando comparadas à população geral, ressaltando a vulnerabilidade dessa população 21. Da mesma forma, uma análise comparativa entre a África Subsariana e países de alta renda revelou que, embora as taxas de mortalidade sejam menores em países de maior renda, as disparidades continuam a impactar desproporcionalmente os países de baixa e média renda 22.
Os resultados deste estudo evidenciaram que as taxas de mortalidade por doenças digestivas associadas ao HIV foram consistentemente baixas ao longo do período analisado, mas as desigualdades regionais persistiram, com tendência crescente observada em estados da região Norte. Esse achado corrobora com um estudo realizado na Europa, que avaliou a tendência de mortalidade entre pessoas vivendo com HIV no período de 2001 a 2020 e identificou uma redução na mortalidade relacionada a doenças digestivas, especificamente hepáticas, atribuída às melhorias nos tratamentos e no manejo dessas condições 23.
De forma similar, a análise das tendências temporais das causas de morte na Coorte Suíça de HIV revelou uma redução acentuada nas mortes relacionadas ao fígado entre 2005 e 2022. Nesse período, foram registrados 166 óbitos (10,2%) atribuídos a condições hepáticas, sendo a maioria associada à coinfecção pelo vírus da hepatite C, reforçando a importância do tratamento integrado e do manejo de coinfecções24. Entretanto, estudo realizado em Uganda apresentou resultados distintos dos identificados na Europa e Suíça, apontando que as doenças hepáticas são fatores determinantes na mortalidade por HIV, com odds aumentadas em até 77% 25.
As taxas de mortalidade por doenças endócrinas foram mais elevadas em estados das regiões Nordeste e Sul, mas houve estacionariedade para o Brasil. Esses achados estão alinhados com estudos conduzidos em diferentes contextos globais, como no Irã, Nigéria, Tanzânia e China, que destacaram a prevalência de condições metabólicas e endócrinas em pessoas vivendo com HIV. Essas condições permanecem como ameaças contínuas, sugerindo a necessidade de abordagens integradas no tratamento do HIV, 26,27,28,29.
Os resultados deste estudo apontaram uma tendência crescente nas taxas de mortalidade por neoplasias associadas ao HIV no Brasil entre 2000 e 2022, especialmente em estados das regiões Sudeste e Sul. Neoplasias não definidoras, como câncer de pulmão e fígado, ganharam relevância, destacando-se como causas significativas de óbito. Esses achados estão alinhados com estudos realizados na Espanha e China, que demonstraram a transição no perfil de mortalidade entre pessoas vivendo com HIV, com maior proporção de óbitos atribuídos a neoplasias não definidoras 29,30.
Reforçando os achados deste artigo, um estudo multicêntrico realizado na França, entre 2020 e 2021 identificou que as neoplasias não definidoras de HIV emergiram como a principal causa de morte, representando uma parcela significativa dos óbitos entre as pessoas vivendo com HIV 9.
Este estudo revelou uma tendência estacionária para as taxas de mortalidade por doenças genitourinárias associadas ao HIV no Brasil entre 2000 e 2022. No entanto, foram identificadas disparidades regionais, com taxas mais elevadas nas regiões Norte e Nordeste, o que pode refletir em desigualdades no acesso e na qualidade do cuidado de saúde. Apesar de ser um tema pouco explorado na literatura científica, estudo realizado na China com mais de 4.000 pessoas vivendo com HIV ao longo de 13 anos demonstrou que idade avançada, baixo nível educacional e baixa contagem de células CD4 estavam fortemente associados a um maior risco de morte por doenças genitourinárias 31.
De forma complementar, pesquisa conduzida em Uganda destacou que doenças renais foram uma das principais comorbidades associadas à mortalidade hospitalar em pessoas vivendo com HIV, especialmente naquelas com contagem de células CD4 abaixo de 200 células/µL 32.
A mortalidade por doenças respiratórias apresentou tendência estacionária na presente investigação, evidenciando a persistência dessas condições como causas significativas de óbito entre pessoas vivendo com HIV. Estudo realizado na França, abrangendo o período de 1997 a 2020, destacou que, apesar dos avanços da TARV, as doenças respiratórias continuam desempenhando um papel relevante na mortalidade dessa população 33.
A incidência de pneumonia bacteriana, por exemplo, permanece elevada, com um risco dez vezes maior entre pessoas vivendo com HIV em comparação com a população geral. Fatores como tabagismo, uso de drogas intravenosas, idade avançada e baixa contagem de células CD4 agravam ainda mais esse risco. Embora a introdução da TARV tenha reduzido a incidência de pneumonia bacteriana, especialmente em indivíduos com contagens de CD4 mais altas, a pneumonia ainda figura entre as principais causas de hospitalização e morte 32. Além disso, em estados críticos, particularmente em unidades de terapia intensiva, a síndrome do desconforto respiratório agudo e a pneumonia são causas frequentes de internação e apresentam altas taxas de mortalidade 33.
Em síntese, no que se refere à mortalidade por condições não definidoras de HIV, caracterizadas neste estudo pelas doenças contidas nos seguintes capítulos da CID: circulatórias, digestivas, endócrinas, neoplasias, genitourinárias e respiratórias, a ocorrência das mesmas podem estar associadas à vulnerabilidade das pessoas vivendo com HIV a essas condições, muitas vezes exacerbadas pela presença de coinfecções, baixa contagem de células CD4 e acesso desigual ao tratamento de HIV 34,35. São necessárias intervenções urgentes com enfoque na prevenção e manejo dessas comorbidades, com ênfase em mudanças no estilo de vida, monitoramento contínuo e integração do cuidado dessas condições no tratamento de HIV36.
Estudos recentes destacam que o status imunológico-virológico precário, frequentemente associado à interrupção da terapia antirretroviral, está entre os principais fatores de risco para mortalidade em pessoas vivendo com HIV. Essa relação reforça a necessidade de estratégias que priorizem o diagnóstico precoce, o monitoramento regular de parâmetros como CD4 e carga viral, além da adesão contínua ao tratamento. Ademais, condições como a tuberculose ativa continuam a impactar negativamente a sobrevida, evidenciando a importância de uma abordagem integrada e equitativa no cuidado dessas populações, conforme observado em estudos internacionais 32.
É importante apontar que, embora este artigo evidencie as vantagens de utilizar dados secundários e apresente informações relevantes para o estudo das comorbidades por HIV e para as políticas públicas, também apresenta limitações referentes às incompletudes e inconsistências dos dados acessados. Os dados do SIM apresentaram melhorias após a qualificação dos registros, o que contribuiu para a redução do registro de óbitos por causas mal definidas.
Contudo, isso também resultou no aumento dos índices de mortalidade específicos em determinadas regiões que, anteriormente, apresentavam registros elevados de óbitos por causas mal definidas, como nas regiões Norte e Nordeste. Diante disto, existe a possibilidade desses dados estarem subestimados no início do período da presente investigação.
Outro ponto a ser considerado é que uma parte dos dados utilizados neste estudo corresponde aos anos da pandemia do COVID-19, o que pode ter influenciado os resultados e a interpretação das tendências de mortalidade observadas. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de HIV e aids5, a pandemia de COVID-19 impactou significativamente os dados de mortalidade por HIV no Brasil, refletindo-se principalmente em uma possível subnotificação de casos e na redução da testagem para HIV durante o período.
A sobrecarga dos serviços de saúde durante a pandemia levou a uma diminuição nas notificações de aids, resultando em uma queda acentuada de 20,2% nos registros de casos entre 2019 e 2020. Essa redução na detecção e notificação pode ter comprometido a avaliação precisa da evolução da epidemia de HIV no país, evidenciando a necessidade de se considerar esses fatores ao interpretar os dados de mortalidade e morbidade relacionados ao HIV durante e após a pandemia1.
Estudo de Luna et al. (2024) 18 também destacou que houve redução das taxas de mortalidade nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul até 2020. No entanto, foi observado um aumento das mortes a partir de 2020, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, o que pode ser um impacto da pandemia do COVID-19, que exacerbou essas desigualdades ao comprometer a continuidade do tratamento e diagnóstico precoce. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade regional, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica.
Conclui-se que, embora a taxa de mortalidade por doenças infecciosas associadas ao HIV apresente tendência decrescente no Brasil, essas taxas ainda permanecem consideravelmente mais elevadas em relação às de condições não definidoras de HIV. Além disso, chama atenção a tendência crescente de mortalidade por condições definidoras e a redução por condições não definidoras de HIV nos estados das regiões Norte e Nordeste, refletindo profundas disparidades regionais.
Esses padrões podem ser atribuídos a fatores como diagnóstico tardio, interrupção ou abandono do tratamento antirretroviral e condições socioeconômicas adversas que impactam a continuidade do cuidado. Por fim, apesar dos avanços na redução da mortalidade, novos desafios emergem, ressaltando a necessidade de uma abordagem de saúde pública integrada e abrangente, que contemple as diversas demandas de saúde das pessoas vivendo com HIV, com foco na equidade e na sustentabilidade das intervenções.
Referências
1. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). The urgency of now: AIDS at a crossroads. Geneva: UNAIDS; 2024. (Global AIDS Update). Disponível em: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2024-unaids-global-aids-update_en.pdf
2. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). The Path That Ends AIDS: Global AIDS Update 2023. Geneva: UNAIDS; 2023. Disponível em: https://thepath.unaids.org
3. Tian X, Chen J, Wang X, Xie Y, Zhang X, Han D, et al. Global, regional, and national HIV/AIDS disease burden levels and trends in 1990-2019: A systematic analysis for the global burden of disease 2019 study. Front Public Health. 2023;11:1068664. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1068664
4. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Relatório Global sobre AIDS: 2023. Geneva: UNAIDS; 2023. Disponível em: https://www.unaids.org/sites/default/files/media/documents/20240722_PR_Global_AIDS_update_pt.pdf
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico - HIV e Aids 2023. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2023. Número Especial. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view
6. Pourcher V, Gourmelen J, Bureau I, Bouee S. Comorbidities in people living with HIV: An epidemiologic and economic analysis using a claims database in France. PLoS One. 2020;15(12):e0243529. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243529
7. Cunha AP, Cruz MM. Análise da tendência da mortalidade por doenças definidoras e não definidoras de HIV/aids segundo características sociodemográficas, por Unidade da Federação e Brasil, 2000-2018. Epidemiol Serv Saude. 2022;31(2):e2022093. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S2237-96222022000200021
8. Eyawo O, Franco-Villalobos C, Hull MW, Nohpal A, Samji H, Sereda P, et al. Changes in mortality rates and causes of death in a population-based cohort of persons living with and without HIV from 1996 to 2012. BMC Infect Dis. 2017;17:174. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12879-017-2254-7
9. Sellier P, Alexandre-Castor G, Brun A, Hamet G, Bouchaud O, Leroy P, et al. Updated mortality and causes of death in 2020–2021 in people with HIV: a multicenter study in France. AIDS. 2023;37(13):2007-2013. Disponível em: https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000003645
10. Shiels MS, Islam JY, Rosenberg PS, et al. Projecting cancer incidence rates and burden of incident cancer cases attributable to HIV in the United States through 2030. Ann Intern Med. 2021.
11. Benzaken AS, Pereira GFM, Costa L, et al. Antiretroviral treatment, government policy and economy of HIV/AIDS in Brazil: is it time for HIV cure in the country?. AIDS Res Ther. 2019;16:19. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12981-019-0234-2
12. Maria MPM, Carvalho MP de, Fassa AG. Adesão à terapia antirretroviral de pessoas vivendo com HIV/aids em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Cad Saúde Pública. 2023;39(1):e00099622. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311XPT099622
13. Manosuthi W, Charoenpong L, Santiwarangkana C. A retrospective study of survival and risk factors for mortality among people living with HIV who received antiretroviral treatment in a resource-limited setting. AIDS Res Ther. 2021;18:71. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12981-021-00397-1
14. Trickey A, McGinnis K, Gill MJ, Abgrall S, Berenguer J, Wyen C, et al. Longitudinal trends in causes of death among adults with HIV on antiretroviral therapy in Europe and North America from 1996 to 2020: a collaboration of cohort studies. Lancet HIV. 2024;11. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S2352-3018(23)00272-2
15. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. Brasília: Ministério da Saúde; 2024. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/pcdt_hiv_modulo_1_2024.pdf
16. Costa AJL, Kale PL, Vermelho LL. Indicadores de Saúde. In: Medronho RA, organizador. Epidemiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu; 2009. p. 31-82.
17. Antunes JLF, Cardoso MRA. Uso da análise de séries temporais em estudos epidemiológicos. Epidemiol Serv Saude. 2015;24(3):565–76. Disponível em: https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000300024
18. Luna JAF, Monteiro CN, Freitas IM, Arantes MM, Barbosa IR, Macário EM. Trends and inequalities in AIDS mortality in Brazil from 2012 to 2022: a spatio-temporal approach. AIDS Res Ther. 2024;21(1):36. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12981-024-00669-6
19. Paula AA, Pires DF, Alves Filho P, Lemos KRV, Veloso VG, Grinsztejn B, et al. Perfis de mortalidade em pessoas vivendo com HIV/aids: comparação entre o Rio de Janeiro e as demais unidades da federação entre 1999 e 2015. Rev Bras Epidemiol. 2020;23:e200017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-549720200017
20. Liu Z, Zhang J, Yang X, et al. The dynamic risk factors of cardiovascular disease among people living with HIV: a real-world data study. BMC Public Health. 2024;24:1162. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12889-024-18672-x
21. Alonso A, Barnes AE, Guest JL, Shah A, Shao IY, Marconi V. HIV Infection and Incidence of Cardiovascular Diseases: An Analysis of a Large Healthcare Database. J Am Heart Assoc. 2019;8. Disponível em: https://doi.org/10.1161/JAHA.119.012241
22. Yuyun MF, Sliwa K, Kengne AP, Mocumbi AO, Bukhman G. Cardiovascular Diseases in Sub-Saharan Africa Compared to High-Income Countries: An Epidemiological Perspective. Glob Heart. 2020;15(1):15. Disponível em: https://doi.org/10.5334/gh.403
23. Kraef C, Tusch E, Singh S, Østergaard L, Fätkenheuer G, Castagna A, et al. All-cause and AIDS-related mortality among people with HIV across Europe from 2001 to 2020: impact of antiretroviral therapy, tuberculosis and regional differences in a multicentre cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2024;44:100989. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100989
24. Weber MSR, Duran Ramirez JJ, Hentzien M, Cavassini M, Bernasconi E, Hofmann E, et al. Time Trends in Causes of Death in People With HIV: Insights From the Swiss HIV Cohort Study. Clin Infect Dis. 2024;79(1):177–88. Disponível em: https://doi.org/10.1093/cid/ciae014
25. • Owachi D, Akatukunda P, Nanyanzi DS, Katwesigye R, Wanyina S, Muddu M, et al. Mortality and associated factors among people living with HIV admitted at a tertiary-care hospital in Uganda: a cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2024;24(239):1-10. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12879-024-09112-7
26. Malindisa E, Balandya E, Njelekela M, Kidenya BR, Francis F, Mmbaga BT, et al. Metabolic syndrome among people living with HIV on antiretroviral therapy in Mwanza, Tanzania. BMC Endocr Disord. 2023;23(88):1-8. Disponível em: https://bmcendocrdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12902-023-01340-3
27. Gheibi Z, Shayan Z, Joulaei H, et al. Determinants of AIDS and non-AIDS related mortality among people living with HIV in Shiraz, southern Iran: a 20-year retrospective follow-up study. BMC Infect Dis. 2019;19:1094. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12879-019-4676-x
28. Jumare J, Dakum P, Sam-Agudu N, et al. Prevalence and characteristics of metabolic syndrome and its components among adults living with and without HIV in Nigeria: a single-center study. BMC Endocr Disord. 2023;23:160. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12902-023-01419-x
29. Dou Z, Luo Y, Zhao Y, Zheng X, Han M. Trends in Mortality and Prevalence of Reported HIV/AIDS Cases — China, 2002–2021. China CDC Wkly. 2023;5(42):943-947. Disponível em: 10.46234/ccdcw2023.177
30. Suárez-García I, Gutierrez F, Pérez-Molina JA, Moreno S, Aldamiz T, Valencia Ortega E, et al. Mortality due to non-AIDS-defining cancers among people living with HIV in Spain over 18 years of follow-up. J Cancer Res Clin Oncol. 2023;149(20):18161-18171. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00432-023-05500-9
31. Squillace N, Cogliandro V, Ranzani A, et al. Human Papilloma Virus Related Cancers in People Living with HIV. Curr Infect Dis Rep. 2023;25:151–167. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11908-023-00808-6
32. Zhu Z, Xu Y, Wu S, Li X, Shi H, Dong X, Xu W. Survival and risk factors associated with mortality in people living with HIV from 2005 to 2018 in Nanjing, China. Front Public Health. 2022;10:989127. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.989127
33. Gaillet A, Azoulay E, de Montmollin E, et al. Outcomes in critically ill HIV-infected patients between 1997 and 2020: analysis of the OUTCOMEREA multicenter cohort. Crit Care. 2023;27:108. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13054-023-04325-9
34. Piggott DA, Erlandson KM, Yarasheski KE. Frailty in HIV: Epidemiology, Biology, Measurement, Interventions, and Research Needs. Curr HIV/AIDS Rep. 2016;13(6):340-348. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11904-016-0334-8
35. Reekie J, Kosa C, Engsig F, Monforte A, Wiercinska-Drapalo A, Domingo P, et al. Relationship between current level of immunodeficiency and non-acquired immunodeficiency syndrome-defining malignancies. Cancer. 2010;116(22):5306-15. Disponível em: https://doi.org/10.1002/cncr.25311
36. Gamble-George JC, Longenecker CT, Webel AR, Au DH, Brown AF, Bosworth H, et al. Implementation research to develop interventions for people living with HIV (the PRECluDE consortium): Combatting chronic disease comorbidities in HIV populations through implementation research. Prog Cardiovasc Dis. 2020;63(2):79-91. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.02.004