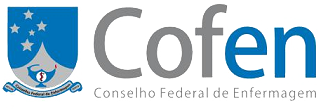0134/2025 - Autoavaliação da saúde entre mulheres e homens idosos do ELSA-Brasil: similaridades e diferenças
Self-assessment of health among elderly women and menELSA-Brasil: similarities and diferences
Autor:
• Manuela Oliveira de Cerqueira Magalhães - Magalhães,MOC - <manuelamagalhaes@guitzel.com.br>ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1758-1377
Coautor(es):
• Maria da Conceição Chagas de Almeida - Almeida, MCC - <conceicao.almeida@fiocruz.br>ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4760-4157
• Júlia Guitzel - Guitzel, J - <juliaguitzel18.1@bahiana.edu.br>
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-8043-2898
• Mariana Fucs - Fucs, M - <fucsmariana@gmail.com>
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-8110-8980
• Estela Maria Motta Leão de Aquino - Aquino, EMML - <estela@ufba.br>
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8204-1249
Resumo:
A autoavaliação da saúde (AAS) tem sido utilizada em inquéritos de saúde como preditor de risco de morbimortalidade. O aumento da idade e as diferenças entre como homens e mulheres avaliam sua saúde fazem parte das condições ainda controversas na literatura de como interferem nessa percepção. O objetivo deste artigo é mensurar as diferenças na AAS em mulheres e homens idosos e buscar explicá-las à luz da perspectiva de gênero. É um estudo de corte transversal utilizando dados de 3263 participantes com 60 anos ou mais na linha de base do ELSA-Brasil (Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto), ocorrida entre 2008-2010. A análise multivariada foi realizada por regressão logística multinomial, adotando-se o procedimento forward stepwise. Foi realizado cálculo da razão do risco relativo bruto e ajustado, com um intervalo de confiança (IC) de 95%. Toda a análise foi estratificada por sexo. A AAS foi melhor em mulheres brancas, com alto apoio social, que não estiveram hospitalizadas ou passaram por dificuldades financeiras no último ano, assim como homens com melhor coesão social. O conhecimento sobre como homens e mulheres percebem sua saúde promoverá adoção em medidas nas políticas públicas e na abordagem individual dos profissionais de saúde que trabalham com essa população.Palavras-chave:
idoso, autoavaliação de saúde, diferenças de gêneroAbstract:
Self-rated health (SHL) has been used in health surveys as a predictor of morbidity and mortality risk. Increasing age and differences between how men and women evaluate their health are still controversial in the literature regarding how they affect this perception. The objective of this article is to measure the differences in SHL in elderly women and men and to try to explain thema gender perspective. This is a cross-sectional study using data3,263 participants aged 60 or over at the baseline of the ELSA-Brasil (Longitudinal Study of Adult Health), which took place between 2008 and 2010. Multivariate analysis was performed by multinomial logistic regression, adopting the forward stepwise procedure. The crude and adjusted relative risk ratios were calculated, with a 95% confidence interval (CI). All analyses were stratified by sex. AAS was better in white women, with high social support, who had not been hospitalized or experienced financial difficulties in the last year, as well as in men with better social cohesion. Knowledge about how men and women perceive their health will promote the adoption of measures in public policies and in the individual approach of health professionals who work with this population.Keywords:
elderly, self-rated health, gender differencesConteúdo:
A autoavaliação da saúde (AAS) representa a percepção que o indivíduo tem das diferentes dimensões de sua própria saúde, expressa como uma medida global e única de um construto complexo, que abrange o estado de saúde, o bem estar psicológico, o nível da satisfação com a vida e a qualidade de vida relacionada à saúde 1. Envolve experiências do passado e expectativas futuras, sendo utilizada em inquéritos de saúde como preditor de risco de complicações e morbimortalidade na população 2,3.
As diferenças dos significados de saúde entre homens e mulheres, fruto de diferentes fatores relacionados a socialização de gênero, tal como será apontado adiante, refletem-se na forma como ambos avaliam sua saúde e orientam a busca de cuidados 4. A literatura aponta estes diferenciais de gênero, de modo recorrente, porém há controvérsias sobre o potencial preditor de morbimortalidade da AAS para homens e para mulheres 4–7. Estudo realizado na Finlândia evidenciou que, nos períodos avaliados, a associação de AAS e mortalidade não diferiu significativamente entre homens e mulheres 8.
Os estudos investigam se esses diferenciais se explicam por distintas condições de saúde ou desigualdades socioeconômicas e culturais 9 ou mesmo pelo grau de conhecimento a respeito da própria saúde e pelo que valorizam para classificá-la 10. A maneira como vivenciam as interações sociais e as relações interpessoais pode influenciar os diferenciais de gênero, já que o apoio social e a rede social têm efeitos diretos e indiretos sobre a AAS. Por exemplo, as mulheres, em vários contextos, costumam ter apoio e rede sociais mais amplos do que os homens 11,12.
É ainda sabido que as mulheres têm contatos mais frequentes com os serviços de saúde ao longo da vida, especialmente pela medicalização dos ciclos reprodutivos, o que resulta em maior conhecimento sobre seu estado de saúde e maior adesão às concepções biomédicas 7. Os homens, ao avaliarem sua saúde, costumam considerar mais a fatalidade das doenças, fazendo com que a avaliação de sua saúde tenha maior relevância quando utilizada para definir risco de mortalidade, enquanto as mulheres levam mais em consideração as doenças que causam incapacidades, avaliando assim condições de maior morbidade 7,13.
Em estudo multicêntrico realizado na Europa (SHARE) as mulheres avaliaram mais positivamente a saúde do que os homens em quase todos os países participantes do estudo, quando consideradas as mesmas condições socioeconômicas e de saúde 14. Na América do Sul, brasileiras e chilenas idosas, tiveram uma percepção mais negativa da saúde do que os homens 15. Confortin (2015), em estudo realizado no sul do Brasil, encontrou também uma autoavaliação mais positiva da saúde entre os homens. Este achado foi atribuído às diferenças de gênero nas condições de saúde no envelhecimento, decorrentes da combinação de fatores biológicos, sociais e comportamentais, o que influenciaria a percepção da saúde.
Diferenças entre países distintos permitem pensar que a extensão das desigualdades de gênero, principalmente na saúde, pode influenciar a magnitude dos diferenciais entre mulheres e homens na AAS e os fatores que os influenciam 9. Por exemplo, na Suécia - país conhecido pela maior equidade de gênero - entre quarenta e dois fatores explicativos da AAS foram encontrados poucos com papéis distintos entre mulheres e homens com idade acima de 17 anos 17, sendo a duração do sono e o uso de consultas médicas apenas para elas, e a escolaridade, a atividade física e a participação em atividades culturais para eles.
Jylhä (2009), em seu modelo conceitual sobre o processo de AAS, argumenta que as histórias de vida e situações individuais influenciam esta questão. Na sociedade brasileira, marcada por desigualdades sociais, certamente as de gênero podem influenciar a AAS. Em estudo comparando AAS em países com características distintas, discute-se que as diferenças nas respostas podem decorrer de fatores culturais como expectativas de gênero, além de, por exemplo, pressões para o autoaperfeiçoamento nos Estados Unidos, ou a autocrítica no Japão, assim como quanto a aspectos históricos (experiências de guerras e recessões financeiras), e o grau de acesso a bens e serviços como educação e saúde 9.
Uma questão relevante para o presente trabalho diz respeito à influência do aumento da idade na piora da autopercepção da saúde. Estudo comparando várias regiões do Brasil, com homens e mulheres maiores de 18 anos, evidenciou que a AAS era pior em pessoas mais velhas. Esta piora foi mais significativa em pessoas com mais de 60 anos para ambos os sexos 19. Todavia, notou-se um declínio na autoavaliação negativa da saúde em idades mais avançadas (? 80 anos) 5. Isto pode ser atribuído a um viés de sobrevivência segundo o qual as pessoas com melhor saúde vivem mais, que as pessoas idosas bem mais velhas não queiram demostrar incapacidade ou dependência aos seus familiares, ou ainda por terem se adaptado e aprendido a conviver com as mudanças decorrentes do envelhecimento 5,20.
O objetivo deste artigo é mensurar as diferenças na AAS em mulheres e homens idosos. Foi adotada uma perspectiva de gênero, entendida aqui como um princípio de organização social e de distribuição de recursos e poder, o qual influencia a saúde, o adoecimento, a busca de cuidados e a morte 21.
Wharton, em seu livro “The sociology of gender”, destaca que o gênero importa porque ele molda identidades e comportamentos, influencia como as pessoas veem a si próprias, os modos como elas se comportam e como elas veem os outros, moldando as interações sociais. Gênero também organiza as instituições sociais, tais como a educação, a religião, o esporte, o sistema legal e o trabalho, bem como dimensões da vida, a exemplo do casamento, parentalidade e a família.
MÉTODOS
Este estudo se insere no ELSA-Brasil (Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto), que investiga doenças crônicas em uma coorte com 15105 mulheres e homens, nascidos entre 1934 e 1975 (35 a 74 anos), funcionários públicos, ativos e aposentados, recrutados em seis instituições de ensino superior e pesquisa (Universidades Federais da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul; Universidade de São Paulo e Fundação Osvaldo Cruz) 22.
Trata-se de um estudo de corte transversal com dados de 3263 participantes com 60 anos ou mais da linha de base do ELSA-Brasil (ocorrida entre 2008-2010). Foram excluídos três participantes que não responderam à pergunta sobre AAS.
Os dados foram produzidos por meio de realização de medidas antropométricas e pela aplicação de questionário estruturado e multidimensional em entrevistas face a face, o qual inclui perguntas de interesse para o presente estudo como características sociodemográficas, contexto familiar e social, experiência de eventos estressores e condições de saúde 23.
Foram realizados pré-testes dos instrumentos utilizados e a equipe executora foi treinada, garantindo uniformidade na investigação. Estudos-piloto foram realizados em série, testando o fluxograma até completar todas as fases da pesquisa 22,23.
A informação sobre “autoavaliação da saúde” foi obtida pela pergunta “De um modo geral, em comparação com pessoas da sua idade, como o(a) senhor(a) considera o seu estado de saúde?”, com as seguintes alternativas de resposta única e estimulada: “muito bom”, “bom”, “regular”, “ruim” e “muito ruim”. Na análise, foi considerada como variável desfecho e categorizada em “muito bom”, “bom” e “regular/ruim/muito ruim”.
Com base na literatura sobre determinantes sociais da saúde e particularmente sobre gênero, envelhecimento e saúde foram considerados os seguintes conjuntos de variáveis independentes: Sociodemográficas - faixa etária, raça/cor, escolaridade, situação funcional; Familiares - união conjugal atual, ter filhos, com quem mora, chefia da família, cuidado de pessoa com necessidades especiais; Contexto social - capital social, apoio social, atividades religiosas; Eventos de vida produtores de estresse - hospitalização, rompimento amoroso, morte de familiar, dificuldades financeiras maiores que as habituais, e ter sofrido assalto; Condições de saúde - atividade física no lazer, estado do peso corporal, morbidade crônica autorreferida.
A coesão social, um dos domínios da escala de vizinhança 24, forma um bloco de cinco questões avaliadas conjuntamente: “Na sua vizinhança, as pessoas estão dispostas a ajudar seus vizinhos; Sua vizinhança é bem unida (...); As pessoas na sua vizinhança são de confiança; Em geral, as pessoas na sua vizinhança NÃO se dão bem umas com as outras; As pessoas na sua vizinhança NÃO compartilham os mesmos padrões culturais, de comportamento, princípios éticos ou morais, entre outros? As opções de resposta são: 1 – concordo totalmente, 2 – concordo parcialmente, 3 – não concordo nem discordo, 4 – discordo parcialmente e 5 – discordo totalmente. As respostas 1 e 2 foram categorizadas em sim, tem coesão social, e as respostas 3, 4 e 5 em não, sem coesão social.
O apoio social foi medido com base em um bloco de itens de escala de capital social 25 “O(a) Sr(a) conhece alguém que possa dar conselhos a respeito de seus conflitos no ambiente de trabalho?...possa te ajudar a fazer uma mudança de casa (empacotar, ajudar a carregar)? ...possa te ajudar em pequenas tarefas domésticas? ...possa fazer compras para o(a) Sr(a), se o(a) Sr(a) estiver doente? ...possa lhe emprestar uma boa quantidade de dinheiro se o(a) Sr(a) precisar? ...possa te abrigar em casa por uma semana se o(a) Sr(a) precisar? ...possa te dar conselhos a respeito de conflitos entre membros de sua família? ...possa dar boas referências sobre o(a) Sr(a) quando estiver procurando emprego? ...possa tomar conta das crianças enquanto o(a) Sr(a) estiver fora? ...possa conversar com o(a) Sr(a) a respeito de assuntos muito importantes?”. Foi categorizada em baixo (quando as respostas foram as alternativas entre 0 a 7) e alto apoio social (quando as respostas foram as alternativas entre 8 a 10).
Os eventos de vida produtores de estresse foram avaliados a partir de questões relativas à ocorrência dos eventos nos últimos doze meses 26 “Nos ÚLTIMOS 12 MESES, o(a) senhor(a) foi assalto(a) ou roubado(a) (...); esteve hospitalizado(a) por uma noite ou mais (...); faleceu algum parente próximo; enfrentou dificuldades financeiras mais graves do que as habituais; passou por algum rompimento de relação amorosa, incluindo divórcio ou separação?
Para informações referentes à realização de atividade física no lazer foi utilizado o International Fiscal Fiscal Questionnaire (IPAQ), que contém perguntas em relação à frequência, duração e intensidade da atividade 27,28. Para a análise foi considerada sim, para os que realizam atividade física e não para aqueles que não realizam.
O peso corporal e a altura em pé foram aferidos de acordo com padrões e critérios técnicos consolidados 29. O estado do peso corporal, classificado de acordo com o IMC (índice de massa corporal) em obesidade, sobrepeso, eutrofia e magreza, foi calculado como peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros 30. Na análise, em virtude do número muito pequeno de participantes com magreza, esse dado foi somado a eutrofia.
A variável “morbidade crônica autorreferida” foi construída com as respostas à pergunta “Alguma vez um médico lhe informou que o (a) senhor(a) teve ou tem alguma das seguintes doenças?”, sendo elas: hipertensão arterial, infarto do miocárdio, angina do peito, doença de chagas, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, doença renal, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças articulares, cirrose e neoplasia.
Para o processamento e a análise dos dados foi utilizado o software estatístico Stata versão 17. Inicialmente foi procedida análise descritiva com distribuição das frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas. Em seguida foi realizada análise bivariada para observar as possíveis associações entre as variáveis independentes e a variável desfecho, utilizando o teste ?² de Pearson.
A análise multivariada foi realizada por regressão logística multinomial, adotando-se o procedimento forward stepwise para introdução das variáveis no modelo. Para tanto, foram selecionadas na análise bivariada as variáveis independentes que tiveram associação com o desfecho com uma significância p ? 0,20, permanecendo no modelo final apenas aquelas com p <0,05. Após a introdução de cada variável, assim como na avalição do modelo final, foi realizado teste de bondade do ajuste (BIC) para determinar a contribuição de cada uma delas. Foi realizado cálculo da razão do risco relativo bruto e ajustado, com um intervalo de confiança (IC) de 95%. Toda a análise foi estratificada por sexo.
O estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP – 976/2006) e pelos Comitês de Ética de cada uma das Instituições participantes. Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre informado 22.
RESULTADOS
Da população idosa do ELSA-Brasil, mais da metade dos participantes (53,2%) eram mulheres, as quais eram um pouco mais jovens que os homens (menos de 15% delas e 23% deles tinham 70 anos ou mais). Mais da metade tinha escolaridade superior/pós-graduação (51,5% das mulheres e 60% dos homens) e se declararam de raça/cor branca (54% delas e 60% deles). Mais homens (37,3%) que mulheres (26,7%) estavam em atividade laboral na instituição, e mesmo entre os aposentados, um percentual um pouco maior deles (33,6%) em relação a elas (27,7%) continuavam trabalhando. Mais de 80% dos homens estavam em uma união conjugal, enquanto entre as mulheres, 42% estavam separadas ou viúvas e 15,5% eram solteiras (dados não apresentados).
A maioria absoluta (75,2% das mulheres e 75,9% dos homens) avaliou sua saúde como muito boa e boa, e os diferenciais de gênero foram muito pequenos: um pouco mais das mulheres (28,3% x 25,4%) tendendo a classificar sua saúde como “muito boa”. A classificação ruim e muito ruim foi de 2,8% para as mulheres e 2,5% para os homens, sendo considerada regular para cerca de 22% em ambos.
Não foi observada pior AAS quanto à idade, ao se comparar as duas faixas etárias estudadas. Mulheres e homens avaliaram sua saúde predominantemente de forma positiva (Tabelas 1 e 2).
A AAS foi melhor entre pessoas brancas, com maior escolaridade, que permaneciam ativas ou, embora aposentadas, mantinham-se trabalhando, e isso ocorreu independente do sexo. Algumas características familiares e sociais influenciaram positivamente a AAS, tais como, não morar com netos, ter mais apoio social, não ter vivenciado hospitalização ou dificuldades financeiras maiores que as habituais nos últimos doze meses, praticar atividade física no lazer e não apresentar morbidade crônica. Esta última variável mostrou uma associação inversa com efeito gradiente. Para as mulheres, adicionalmente, quanto mais magra melhor a AAS, assim como estar em uma união conjugal e morar com o cônjuge; mas ser chefe de família, ter filhos, cuidar de pessoas com necessidades especiais e participar de atividades religiosas influenciaram negativamente a sua avaliação da saúde. Para os homens os aspectos familiares não influíram, exceto morar com os netos, mas ter uma maior coesão social na vizinhança melhorou a AAS (Tabelas 1 e 2).
Na análise simultânea pela regressão logística, a associação positiva com melhor AAS para mulheres e homens manteve-se mais acentuada com escolaridade e “morbidade crônica”. Houve um gradiente nas duas situações. Quanto melhor a escolaridade e quanto menor o relato de morbidade maior a associação. Esta foi mais expressiva nos homens com nível superior/pós-graduação e quase igual naqueles de ambos os sexos que relataram não ter “morbidade crônica” (Tabelas 3 e 4).
A atividade laboral associou-se a uma melhor percepção da saúde nos homens que trabalhavam, assim como para estes e para as mulheres que estavam aposentados e continuavam trabalhando (Tabelas 3 e 4).
Avaliaram a saúde de forma mais positiva as mulheres brancas, que não cuidavam de pessoas com necessidades especiais, não tinham sido hospitalizadas ou sofreram dificuldades financeiras maiores que as habituais nos últimos 12 meses. Presença de apoio social alto, realizar atividade física e estar com o peso corporal normal igualmente se relacionaram a uma saúde melhor avaliada por elas (Tabela 3).
Para os homens ter melhor coesão social na vizinhança também se associou a uma avalição positiva da sua saúde (Tabela 4).
O resumo dos resultados encontrados está apresentado na Figura 1.
DISCUSSÃO
A autoavaliação positiva (boa e muito boa) da saúde teve distribuição parecida para mulheres e homens neste estudo, tal como se observou em estudos europeus e nórdicos, onde há maior equidade de gênero, especialmente no mundo do trabalho e da família 6,8,17. Na coorte ELSA-Brasil, ambos os grupos têm condições semelhantes de trabalho e um maior nível de escolaridade. Além disso, são funcionários públicos, portanto têm mecanismos equivalentes de acesso por concurso público e progressão funcional segundo os mesmos critérios, além de maior estabilidade no emprego e segurança quanto à aposentadoria, fatores que conferem maior homogeneidade social e de gênero, e podem ter influenciado estes achados.
A coorte do ELSA-Brasil difere da maioria dos estudos sobre pessoas idosas brasileiras, quanto à escolaridade e à situação funcional e financeira, e não inclui estratos extremos como os muito pobres e aqueles com escolaridade muito baixa. A falta de segurança financeira pode levar a uma pior avaliação da saúde e uma maior incidência de doenças como depressão e hipertensão arterial 31. Na maioria dos estudos sobre gênero e trabalho, as mulheres mais velhas têm menor escolaridade, mais baixa renda, visto que não trabalharam durante sua vida ou, quando trabalharam, o fizeram em trabalhos precários e obtinham uma renda menor do que a dos homens 32.
A associação de melhor AAS com uma maior escolaridade pode ser atribuída, em primeiro lugar, a condições objetivas, que determinam melhores condições de saúde. Pessoas com maior acesso à informação costumam adotar hábitos mais saudáveis, promovendo modificação positiva no estilo de vida, tanto no que se refere à promoção da saúde, quanto à prevenção de doenças 33. A escolaridade parece ter efeito de proteção quanto à percepção ruim da saúde, e o aumento da escolarização feminina pode reduzir as diferenças entre os sexos 5.
Os presentes resultados não evidenciaram influência do aumento da idade com uma pior AAS, tal como é descrito na literatura 19,34, principalmente naqueles com idades mais avançadas 5. Provavelmente, isto se deve ao fato de que a coorte é ainda relativamente jovem, e não inclui a experiência das pessoas muito mais velhas, especialmente as maiores de 80 anos. Tratando-se de dados de um estudo longitudinal, novas análises poderão ser feitas em um futuro próximo, incluindo os dados da de outras etapas.
As mulheres que se autodeclararam brancas avaliaram mais positivamente sua saúde, porém isso não foi identificado entre os homens. De fato, não há um consenso sobre o tema nos estudos no Brasil, enquanto uns não confirmam tal associação 35, outros encontraram pior avaliação entre as mulheres não brancas 31. Nos Estados Unidos, observou-se que as mulheres negras, mesmo ao melhorar sua trajetória de saúde, continuam em pior situação quando comparadas com homens e mulheres brancas e homens negros. Esse fato pode ser atribuído às desigualdades socioeconômicas vivenciadas por estas 36.
Os presentes achados de melhor avaliação da saúde entre as mulheres, aposentadas que trabalham e as que não cuidam de pessoas com necessidades especiais mostram a relevância de investigar os papéis desempenhados pelas mulheres no mercado de trabalho e na sociedade, adotando uma perspectiva de gênero 21,37,38.
Na literatura avaliada, não há consenso quanto à associação da avaliação da saúde e cuidar de pessoas com necessidades especiais. Discute-se que esta atribuição pode afetar negativamente a saúde física e mental, a vida laboral e social como também o bem estar, em virtude da carga emocional e de trabalho exigidos 39. Existem também relatos de que a função de cuidar pode promover sensação de bem estar, sendo discutido se, mesmo havendo uma clara divisão sexual do trabalho, com as mulheres sendo as principais cuidadoras 40,41, haveria a tendência a este tipo de atribuição ser desempenhada por aquelas com melhores condições emocionais 42.
Uma questão merece ser discutida na perspectiva de gênero e envelhecimento: apesar de fatores familiares serem descritos como importantes na vida das pessoas idosas 43,44, no presente estudo não foi confirmada associação entre AAS e estado conjugal, morar sozinho ou com familiares, e participação em atividades religiosas, que havia sido observada entre as mulheres na análise bivariada. Entretanto, manteve-se com o maior apoio social, o que converge com os resultados de estudo realizado nos EUA 45.
Em outros estudos, viver sozinho não foi um preditor do estado subjetivo da saúde, assim como a rede de apoio 35,44. Os presentes resultados convergem nesta direção quanto a falta de influência sobre a AAS de morar sozinho para homens e mulheres, mas diferem com relação ao efeito positivo do apoio social para elas.
Para os homens idosos do ELSA-Brasil, mas não para as mulheres, haver coesão social na vizinhança esteve associado à melhor avaliação da saúde. Outros autores evidenciaram que, no contexto urbano, a vizinhança frequentemente é considerada como a unidade primordial de solidariedade, real ou potencial, e de coesão social 46. Indicadores de atividades sociais, tais como rede social e atividades sociais, principalmente fora do domicílio, parecem diminuir a importância de condições socioeconômicas, mas estas mantém seu poder explicativo no estado de saúde subjetivo 44.
A associação da melhor AAS com a não participação em atividades religiosas para mulheres não se manteve no modelo final. Há controvérsias quanto ao papel da religião na saúde. Alguns autores afirmam que o compromisso religioso individual melhora a autoestima e influencia positivamente a saúde 47 e aumenta a probabilidade de se envelhecer de forma bem sucedida 48. Entretanto, estudo brasileiro já havia observado uma melhor avaliação da saúde entre pessoas sem religião 35. A discussão gira em torno de que o impacto protetor da religião sobre a saúde seria relevante nas regiões em que as pessoas têm mais religiosidade 49, ou seja, a religiosidade individual sofre influência do contexto religioso local 47, o que não parece ocorrer entre os participantes do ELSA-Brasil.
Com relação às condições de saúde, resultados deste estudo mostraram que praticar atividade física associou-se à autoavaliação positiva da saúde, em mulheres e homens. Diversos outros estudos encontram associação da AAS com atividade física no lazer, obesidade (principalmente nas mulheres) e morbidades crônicas (maior número em homens) 16,19,35,50.
A associação da avaliação da saúde muito boa com estado de eutrofia pode reforçar uma preocupação com a saúde devido à relação de aumento do peso com piora das doenças crônicas, como diabetes mellitus e hipertensão, mas também pode estar relacionada a uma preocupação excessiva das mulheres ocidentais em adequar-se ao modelo hegemônico de beleza vinculado a magreza 51.
A avaliação geriátrica ampla, englobando a avaliação clínica tradicional, acrescida de avaliação cognitiva, funcional, nutricional e social, permite uma maior precisão diagnóstica das condições de saúde, ressaltando as doenças crônicas, ressaltando as neurodegenerativas, a exemplo das demências e doença de Parkinson, que compromete tanto cognitivamente quanto funcionalmente, e, a nível populacional, possibilita avaliar capacidade funcional e qualidade de vida 52. Nesse estudo a ausência de morbidades crônicas esteve fortemente associada à autoavaliação positiva da saúde, mesmo quando ajustada para as outras variáveis, em mulheres e homens. Isso é convergente com a extensa literatura internacional que enfatiza a presença de doenças como um dos principais determinantes da AAS em pessoas idosas 6,53.
A generalização dos presentes resultados deve ser feita com cautela por se tratar de uma coorte composta por voluntários. Cabe ressaltar, no entanto, que o ELSA-Brasil tem como principal vantagem ser um estudo longitudinal com grande aderência de seus participantes, o que, aliado a um modelo explicativo abrangente, tem permitido a geração de hipóteses com os dados da linha de base, que poderão ser testadas em análises longitudinais.
Adicionalmente, 1/5 de seus participantes tinham 60 anos ou mais ao serem recrutados e mais da metade (55,2%) destes tinham nível de escolaridade superior/pós-graduado. O estudo traz, portanto, novas contribuições para a explicação dos fatores relacionados à AAS em pessoas idosas, especialmente sobre o papel da escolaridade na situação das mulheres, em um país de média renda, onde a maioria dos estudos utilizou amostras predominantemente de baixa escolaridade.
Outra contribuição relevante diz respeito à abordagem da AAS positiva, enquanto os estudos identificados no Brasil e na maior parte da literatura internacional enfocaram a autoavaliação negativa do estado de saúde. Essa opção metodológica visou produzir conhecimentos que orientem a prática clínica de reforço ao envelhecimento mais saudável e autônomo, bem como embasem políticas e ações de promoção da saúde e não apenas do cuidado de doenças nessa etapa da vida.
É inegável a relevância da ausência ou menor presença de morbidades crônicas, bem como a prática de atividade física no lazer, para a avaliação positiva da saúde, sem diferencial de gênero, o que confere importância às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
Entretanto, a adoção da perspectiva de gênero, desde a concepção do estudo, na seleção de variáveis, nas estratégias de análises e na interpretação dos resultados, permitiu tornar evidente o papel da escolarização, principalmente para as mulheres, ao avaliarem positivamente sua saúde. Mas são as mulheres brancas que se encontram em melhor situação o que aponta a necessidade de incorporar uma abordagem interseccional de raça, classe e gênero em estudos futuros 54. Os achados indicam também que, mantidas condições semelhantes de acesso e progressão nas carreiras, tal como ocorre em instituições públicas de ensino superior e pesquisa, as experiências de mulheres e homens se aproximam quanto ao papel do trabalho profissional (mesmo após a aposentadoria) em termos da saúde e bem estar no envelhecimento.
A abordagem de gênero permite ainda arriscar a interpretação das principais diferenças entre mulheres e homens, que ficaram circunscritas aos preditores sociais e familiares da AAS. Ao avaliar positivamente sua saúde, ressaltam para elas as relações interpessoais de apoio social e cuidado no âmbito privado, enquanto para eles contam mais as relações sociais na vizinhança.
Chama a atenção que a eutrofia só influenciou a AAS entre as mulheres, possivelmente pela pressão do modelo de beleza feminina associada à magreza. Os achados de que a experiência de hospitalização e de dificuldades financeiras maiores que as habituais se mostraram associados a AAS só para as mulheres merecem ser mais bem investigados em pesquisas futuras, inclusive em análises longitudinais no ELSA-Brasil e em estudos socioantropológicos que permitam aprofundar a compreensão sobre os resultados encontrados.
Em conclusão, o melhor conhecimento sobre como mulheres e homens idosos percebem sua saúde promoverão benefícios na adoção de medidas nas políticas públicas, e também na abordagem individual pelos diversos profissionais da saúde que trabalham com essa população.
Financiamento
O estudo ELSA-Brasil na linha de base teve apoio do Ministério da Saúde Brasileiro (Departamento de Ciência e Tecnologia) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Agência Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq) (concessões 01 06 0010.00 RS, 01 06 0212.00 BA, 01 06 0300.00 ES, 01 06 0278.00 MG, 01 06 0115.00 SP, 01 06 0071.00 RJ).
Agradecimentos
Aos participantes do ELSA-Brasil, que voluntariamente participaram deste estudo.
REFERÊNCIAS
1 Ocampo JM. Self-rated health: Importance of use in elderly adults. Colomb Med. 2010;41(3):275-289.
2 Szwarcwald CL, Damacena GN, de Souza Júnior PR, de Almeida Wda S, de Lima LT, Malta DC, Stopa SR, Vieira ML PC. Determinantes da autoavaliação de saúde no Brasil e a influência dos comportamentos saudáveis?: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde , 2013. Rev Bras Epidemiol. 2015;18(suplemento 2):33-44. doi:10.1590/1980-5497201500060004.
3 Craigs CL, Twiddy M, Parker SG, West RM. Understanding causal associations btween self-rated health and personal relationships in older adults: A review of evidence from longitudinal studies. Arch Gerontol Geriatr. 2014;59(2):211-226. doi:10.1016/j.archger.2014.06.009.
4 Idler EL, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Behav. 1997;38(1):21-37. doi:10.2307/2955359.
5 Alves LS RR. Determinantes da autopercepção de saúde entre idosos do Município de São Paulo,Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2005;17(5-6):333-341. doi:10.1590/S1020-
49892005000500005.
6 Crimmins, EM; Kim, JK SA. Gender differences in health: Results from SHARE, ELSA and HRS. Eur J Public Health. 2010;21(1):81-91. doi:10.1093/eurpub/ckq022.
7 Deeg DJH, Kriegsman DMW. Concepts of self-rated health: specifying the gender difference in mortality risk. Gerontologist. 2003;43(3):376-386; discussion 372-375. doi:10.1093/geront/43.3.376.
8 Wuorela M, Lavonius S, Salminen M, Vahlberg T, Viitanen M, Viikari L. Self-rated health and objective health status as predictors of all-cause mortality among older people?: a prospective study with a 5- , 10- , and 27-year follow-up. BMC Geriatr. 2020;20(1):1-7.
9 French DJ, Browning C, Kendig H, et al. A simple measure with complex determinants: investigation of the correlates of self-rated health in older men and women from three continents. BMC Public Health. 2012;12(1):649. doi:10.1186/1471-2458-12-649.
10 Hardy MA, Acciai F, Reyes AM. How health conditions translate into self-ratings: a comparative study of older adults across Europe. J Health Soc Behav. 2014 Sep;55(3):320-41. doi: 10.1177/0022146514541446. PMID: 25138200; PMCID: PMC4669051.
11 Caetano SC, Silva CM, Vettore M V. Gender differences in the association of perceived social support and social network with self-rated health status among older adults: a population-based study in Brazil. BMC Geriatr. 2013;13(1):122. doi:10.1186/1471-2318-13-122.
12 Chemaitelly H, Kanaan C, Beydoun H, Chaaya M, Kanaan M, Sibai AM. The role of gender in the association of social capital, social support, and economic security with self-rated health among older adults in deprived communities in Beirut. Qual Life Res. 2013;22(6):1371-1379. doi:10.1007/s11136-012-0273-9.
13 Idler EL. Discussion: Gender Differences in Self-Rated Health, in Mortality, and in the Relationship Between the Two. Gerontologist. 2003;43(3):372-375.
doi:10.1093/geront/43.3.372.
14 Verropoulou G. Key elements composing self-rated health in older adults: A comparative study of 11 European countries. Eur J Ageing. 2009;6(3):213-226. doi:10.1007/s10433-009-0125-9.
15 Campos ACV, Albala C, Lera L, Sánchez H, Vargas AMD, Ferreira e Ferreira E. Gender differences in predictors of self-rated health among older adults in Brazil and Chile. BMC Public Health. 2015;15(1):365. doi:10.1186/s12889-015-1666-9.
16 Confortin SC, Giehl MW, Antes DL, Schneider IJ d’Orsi E. Autopercepção positiva de saúde em idosos: estudo populacional no Sul do Brasil. Cad Saude Publica. 2015;31(5):1049-1060.
doi:10.1590/0102-311X00132014.
17 Undén AL, Elofsson S. Do different factors explain self-rated health in men and women? Gend Med. 2006;3(4):295-308. doi:10.1016/S1550-8579(06)80218-4.
18 Jylhä M. What is self-rated health and why does it predict mortality? Towards a unified conceptual model. Soc Sci Med. 2009;69(3):307-316. doi:10.1016/j.socscimed.2009.05.013.
19 Barros MBA, Zanchetta LM, Moura EC MD. Auto-avaliação da saúde e fatores associados, Brasil, 2006. Rev Saúde Pública. 2009;43(Supl 2):27-37. doi:10.1590/S0034-89102009000900005.
20 Curb JD, Guralnik JM, LaCroix AZ, Korper SP, Deeg D, Miles T, White L. Effective aging. Meeting the challenge of growing older. J Am Geriatr Soc. 1990 Jul;38(7):827-8. doi: 10.1111/j.1532-5415.1990.tb01478.x. PMID: 2370401.
21 Wharton AS. The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Reserch. second edi. (John Wiley & Sons Ltd, ed.).; 2012.
22 Aquino EM, Barreto SM, Bensenor IM, Carvalho MS, Chor D, Duncan BB, Lotufo PA, Mill JG, Molina Mdel C, Mota EL, Passos VM, Schmidt MI, Szklo M. Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil): objectives and design. Am J Epidemiol. 2012 Feb 15;175(4):315-24. doi: 10.1093/aje/kwr294. Epub 2012 Jan 10. PMID: 22234482.
23 Chor D, Alves MG, Giatti L, Cade NV, Nunes MA, Molina Mdel C, Benseñor IM, Aquino EM, Passos V, Santos SM, Fonseca Mde J OL. Questionário do ELSA-Brasil: desafios na elaboração de instrumento multidimensional. Rev Saude Publica. 2013;jun; 47(SUPPL2):27-36. doi:10.1590/S0034-8910.2013047003835.
24 Santos SM, Griep RH, Cardoso LO, et al. Adaptação transcultural e confiabilidade de medidas de características autorreferidas de vizinhança no ELSA-Brasil. Rev Saude Publica. 2013;47(2):122-130. doi:10.1590/S0034-8910.2013047003871.
25 Souto EP, Vasconcelos AGG, Chor D, Reichenheim ME, Griep RH. Validade da estrutura fatorial da escala de capital social utilizada na linha de base no ELSA-Brasil. Cad Saude Publica. 2016;32(7):1-12. doi:10.1590/0102-311X00101515.
26 Lopes CS, Faerstein E, Chor D. Eventos de vida produtores de estresse e transtornos mentais comuns: resultados do Estudo Pró-Saúde. Cad Saude Publica. 2003;19(6):1713-1720. doi:10.1590/S0102-311X2003000600015.
27 M Sjostrom, BE Ainsworth, A. Bauman, FC Bull, CR Hamilton-Craig, JF Sallis, M. SJÖSTRÖM, B. AINSWORTH, F. Bull, Christian Hamilton-Craig, J. F SALLIS, B Ainsworth, F. Bull, C. Hamilton-Craig, J Sallis. Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms. www.ipaq.ki.se. 2005;(November):1
15. http://www.ipaq.ki.se/scoring.pdf.
28 Matsudo, S., Araújo, T., Matsudo, V., Andrade, D., Andrade, E., Oliveira, L. C., & Braggion, G. (2012). QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ): ESTUDO DE VALIDADE E REPRODUTIBILIDADE NO BRASIL. Brazilian Journal of Physical Activity & Health, 6(2), 5–18. https://doi.org/10.12820/rbafs.v.6n2p5-18.
29 Mill JG, Pinto K, Griep RH, et al. Aferições e exames clínicos realizados nos participantes do ELSA-Brasil. Rev Saúde Publica. 2013;47(2):54-62. doi:10.1590/S0034-8910.2013047003851.
30 ABESO. Diretrizes brasileiras de obesidade 2016/ABESO. 4.ed - São Paulo, SP. Published online 2016:188.
31 Rodrigues, CG; Maia A. Como a posição social influencia a auto-avaliação do estado de saúde? Uma análise comparativa entre 1998 e 2003. Cad Saude Publica. 2010;26(4):762-774.
32 Lebrão ML. O Envelhecimento no Brasil: Aspectos da Transição Demográfica e
Epidemiológica. Revista Saúde Coletiva, São Paulo/SP, ano 4, vol. 17, Editorial Boliva, p. 135-140, 2007.
33 Pagotto V, Nakatani AY SE. Fatores associados à autoavaliação de saúde ruim em idosos
usuários do Sistema Único de Saúde. Cad Saude Publica. 2011;ago 27(8):1593-1602.
doi:10.1590/S0102-311X2011000800014.
34 DACHS JNW. Determinantes das desigualdades na auto-avaliação do estado de saúde no Brasil: análise dos dados da PNAD / 1998. Ciência e Saúde Coletiva. 1998;7(4):641-657.
35 Borim FS, Barros MB, Neri AL. Autoavaliação da saúde em idosos: pesquisa de base
populacional no Município de Campinas, São Paulo, Brasil [Self-rated health in the elderly: a population-based study in Campinas, São Paulo, Brazil]. Cad Saude Publica. 2012 Apr;28(4):769-80. Portuguese. doi: 10.1590/s0102-311x2012000400016. PMID: 22488322.
36 Cummings JL. Race, Gender, and SES Disparities in Self-Assessed Health, 1974-2004. Res
Aging. 2008;30(2):137-168. doi:10.1177/0164027507311835.
37 Camarano AA. Mulher idosa: suporte familiar ou agente de mudança? Estud Avançados. 2003;17(49):35-63. doi:10.1590/S0103-40142003000300004.
38 Küchemann BA. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos desafios. Soc estado. 2012;Abr 27(1):165-180. doi:10.1590/S0102-69922012000100010.
39 Chang HY, Chiou CJ, Chen NS. Impact of mental health and caregiver burden on family caregivers’ physical health. Arch Gerontol Geriatr. 2010;50(3):267-271. doi:10.1016/j.archger.2009.04.006.
40 Guimarães NA, Hirata HS, Sugita K. Cuidado e cuidadoras: o trabalho de care no Brasil, França e Japão [Internet]. Sociologia e Antropologia. 2011 ; 1( ja/ju 2011): 151-180.[citado 2024 out. 10 ]Available from:
https://biblio.fflch.usp.br/Guimaraes_NA_3078831_CuidadoECuidadoras.pdf.
41 Hirata H. Trabalho doméstico: uma servidão “voluntária”?In. Políticas públicas e igualdade de gênero. In: Políticas Públicas e Igualdade de Gênero. Vol 8. ; 2004:188.
42 Kim G, Allen RS, Wang SY, Park S, Perkins EA, Parmelee P. The Relation Between Multiple Informal Caregiving Roles and Subjective Physical and Mental Health Status Among Older Adults: Do Racial/Ethnic Differences Exist? Gerontologist. 2018;00(00):1-10. doi:10.1093/geront/gnx196.
43 Caetano SC. Associação Entre Rede e Apoio Social Com Auto-Avaliação Da Saúde Em Idosos Residentes Do Município Do Rio de Janeiro. 2011.
44 SILVA PA. Determinantes individuais e sociais do estado de saúde subjetivo e de bem-estar da população sênior de Portugal. Cad Saude Publica. 2014;Nov 30(11):2387-2400. doi:10.1590/0102-311X00173813.
45 White AM, Philogene GS, Fine L, Sinha S. Social support and self-reported health status of older adults in the United States. Am J Public Health. 2009;99(10):1872-1878.
doi:10.2105/AJPH.2008.146894.
46 Santos SM, Chor D, Werneck GL, Coutinho ESF. Associação entre fatores contextuais e auto-avaliação de saúde: uma revisão sistemática de estudos multinível. Cad Saude Publica. 2007;23(11):2533-2554. doi:10.1590/S0102-311X2007001100002.
47 Stroope S, Baker JO. Whose Moral Community? Religiosity, Secularity, and Self-rated Health across Communal Religious Contexts. J Health Soc Behav. 2018 Jun;59(2):185-199. doi: 10.1177/0022146518755698. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29385355.
48 Battini E, Maciel EM, Finato M da SS. Identificação de variáveis que afetam o envelhecimento: comportamental de um caso clínico. Estud Psicol. 2006;23(4):455-462.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%7B_%7Darttext%7B&%7Dpid=S0103
166X2006000400013%7B&%7Dlang=pt.
49 VanderWeele TJ. Religion and health in Europe: cultures, countries, context. Eur J Epidemiol. 2017;32(10):857-861. doi:10.1007/s10654-017-0310-7.
50 Pavão MR. Autoavaliação do estado de saúde e a associação com fatores sociodemográficos, hábitos de vida e morbidade na população: um inquérito nacional . Cad Saude Publica. 2013;29(4):723-734. doi:10.1590/S0102-311X2013000800010.
51 Tiggemann M. Body image across the adult life span: Stability and change. Body Image. 2004;1(1):29-41. doi:10.1016/S1740-1445(03)00002-0.
52 Franco de Assis Costa, E., & Tronco Monego, E. (2017). Avaliação Geriátrica
Ampla (AGA). Revista UFG, 5(2). Recuperado de
https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/49768.
53 Barreto SM, Figueiredo RC De. Doença crônica, auto-avaliação de saúde e comportamento de risco: diferença de gênero. Rev Saude Publica. 2009;43(Supl 2):38-47. doi:10.1590/S0034 89102009000900006.
54 Veenstra G. Race, gender, class, and sexual orientation: Intersecting axes of inequality and self-rated health in Canada. Int J Equity Health. 2011;10:1-11. doi:10.1186/1475-9276-10-3.