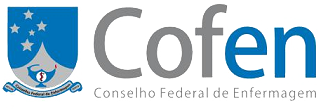0079/2025 - Biomelhoramento moral em tempos iatrogênicos
Human enhancement in iatrogenic times
Autor:
• Izabela Amaral Caixeta - Caixeta, I.A - <izacamal18@gmail.com>ORCIDORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2103-187X
Coautor(es):
• Rudhra Gallina - Gallina, R. - <rudhragallina@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/ 0009 0009 6310 2518
Resumo:
O presente texto tem por objetivo promover criticamente o conceito de iatrogenia a partir das contribuições do pensador Ivan Illich para os campos da Bioética e Saúde Pública. A partir de revisão de literatura com abordagem qualitativa, a proposta é compreender como as expressões iatrogênicas, em particular a iatrogênese do corpo, estabelecem diálogos com a bibliografia hegemônica recente acerca do “melhoramento humano” e seu glossário em disputa, em particular, a corrente transumanista e bioliberal norte-situada. A discussão enfatiza que pensar num corpo “perfeito”, “saudável”, “aprimorado” é necessariamente seguido por uma imagem-pensamento hegemônica de corpos que sejam os padrões universais de humanidade, isto é, corpos brancos, heteronormativos, masculinos, individuais, autossuficientes, revelando a faceta moderna/colonial desse imperialismo moral. Por fim, destacamos o papel da colonialidade da vida enquanto um reflexo de iatrogenias na estrutura do corpo social, evidenciando a importância de um fazer/pensar/agir bioético posicionado de modo crítico em relação a uma noção única ocidental de humanidade a ser melhorada.Palavras-chave:
iatrogenia; biomelhoramento; colonialidade; bioética; raça.Abstract:
This text aims to critically promote the concept of iatrogenesis based on the contributions of the thinker Ivan Illich to the fields of Bioethics and Public Health. Based on a literature review with a qualitative approach, the proposal is to understand how iatrogenic expressions, in particular iatrogenesis of the body, establish dialogues with the recent hegemonic bibliography on "human iemhecement" and its disputed glossary, in particular, the North-situated transhumanist and bioliberal current. As a result and discussion, we emphasize that thinking about a "perfect", "healthy", "improved" body is necessarily followed by a hegemonic image-thought of bodies that are the universal standards of humanity, that is, white, heteronormative, masculine, individual-self-sufficient bodies, revealing the modern/colonial facet of this moral imperialism. Finally, we highlight the role of the coloniality of life as a reflection of iatrogenies in the structure of the social body, showing the importance of a bioethical way of doing/thinking/acting that is critical of a single Western notion of humanity to be improved.Keywords:
iatrogenic disease; human enhancement; colonialism; bioethics.Conteúdo:
Introdução
O presente artigo propõe uma reflexão sobre o conceito de iatrogenia, tal como ele é proposto por Ivan Illich1(1926-2002), importante autor para a saúde pública e demais esferas da vida passíveis de capturas institucionais. Trata-se de uma categoria crítica e reveladora dos processos de violência inerentes às práticas e saberes médicos. A partir dessa reflexão, pretendemos avaliar as promessas transumanistas de biomelhoramento, ou aprimoramento humano, em que pese o argumento moral de progresso e desenvolvimento do ser humano. O interesse pela iatrogenia nessa discussão se justifica por ser um conceito que não nos deixa esquecer da violência encoberta na rotina do intervencionismo médico e demais ações da chamada “empresa médica”, objetificadora da vida e do corpo. Reações adversas a medicamentos, erros médicos, violência hospitalar, complicações cirúrgicas, “eventos adversos”, infecções, procedimentos desnecessários, mas também problemas sociais, iniquidades e desigualdades estruturais, como falta de saneamento básico, analfabetismo, racismo, pobreza, marginalização, misoginia podem ser interpretadas como formas de iatrogenia, sejam elas clínica, social, cultural ou estrutural1.
O termo "iatrogenia" provém da língua grega, "iatros" significa médico e "gênesis" significa origem, indicando um fenômeno adverso que tem sua origem na própria atividade médica em si. No entanto, Ivan Illich1 propõe em seu uso crítico do termo, uma ampliação pela compreensão social e cultural do fenômeno iatrogênico, para além dos fenômenos da iatrogenia clínica. Assim, aqui reposicionada em seus aspectos críticos como importante objeto para o campo bioético, a iatrogenia não se dá somente pelos chamados efeitos indesejados provocados pela instituição médica, mas está na própria medicalização da vida e na mercantilização da cura.
Nesse contexto, estamos diante de posicionamentos bioéticos que se contrapõem. Uma bioética transumanista impulsionada pelo suposto dever moral de promover intervenções e correções biológicas para comportamentos morais, crente de que o avanço biotecnológico protagonizado pelo ocidente tem um papel salvacionista para a humanidade2-5. Por outro lado, existem posicionamentos bioéticos críticos mobilizados no exercício de desvelar as formas pelas quais as narrativas humanistas hegemônicas ocidentais mantêm sua dominação pela negação da alteridade na construção da identidade, como no caso do racismo, do sexismo, do classicismo, do especismo e demais opressões6-9. O argumento ético ou de dever moral em prol da ideia universal de “humanidade” é um debate central para o campo da Bioética.
A princípio, a ideia de que podemos, ou “devemos” aprimorar o caráter moral da humanidade não parece trazer muitos problemas. Tendemos a concordar com esse imperativo, uma vez que percebemos que esse intuito faz parte do objetivo de muitas instituições sociais, em culturas diversas, que propagam formas de “progressão”, “evolução”, “desenvolvimento” e “aprimoramento” seja pela medicina, pedagogia, literatura, filosofia, religiosidade, alimentação, estética, etc. Entendemos, no geral, a moral como algo que se aprende e que podemos e/ou devemos nos aprimorar.
No entanto, a proposta do biomelhoramento (human enhancement) envolve métodos que até então não haviam sido empregados como um caminho de aprendizagem moral: o uso de medicações destinadas à “modulação moral”, envolvendo alterações emocionais induzidas e “correções comportamentais”2,10 causadas por processos descritos, analisados e interpretados do ponto de vista das ciências biológicas e do modo da razão ocidental em seu caráter universalizante. Assim, pensar o biomelhoramento como algo universal, em contextos de assimetrias de poder, heranças coloniais e desigualdades estruturais, nos desafia a perspectivar desde o sul global, quais impactos podem ocorrer com a disseminação das práticas dessas novas tecnologias biológicas e suas consequentes formas de captura e expropriação da vida8. Nesse sentido, intervenções médicas visando para além de “cura de doenças”, como o “melhoramento humano”, também poderiam ser enquadradas entre as possíveis expressões da iatrogenia, implicadas tanto nos aspectos clínicos quanto sócio-históricos e estruturais.
Os teóricos bioeticistas do pensamento hegemônico sobre biomelhoramento2,3, situados no norte global10, defendem que há um imperativo urgente em aprimorar o caráter moral da humanidade, e que estamos descobrindo com o advento das biotecnologias e as pesquisas sobre as possibilidades de neuro-aprimoramento moral, modos de “garantir futuros para a humanidade” e projetar os sentidos mais justos, benevolentes e éticos para nossa existência3. Nomeações como bioconservadores, bioliberais, transumanistas, anti-anti-melhoramento, entre outros, adjetivam essa disputa em curso que ainda se enraíza, geopoliticamente, em países de história colonialista e economia imperialista. Trata-se de uma disputa que entrelaça os temas fundamentais da bioética, como “vida”, “humanidade” e “futuro”.
Por isso, torna-se importante posicionar uma discussão bioética desde o sul global, pois estamos diante de “novas” promessas coloniais num contexto de desigualdades estruturais11,12. Assim, pretendemos aqui destacar os aspectos escamoteados pelos argumentos apresentados nesse cenário atual sobre biomelhoramento, considerando que se trata de uma via de desenvolvimento de grande interesse para a famigerada indústria farmacêutica, a Big Farma e demais mercados que lucram consideravelmente com o espólio da vida ampliada em captura colonial. Por isso, associar a essa discussão o conceito de iatrogenia, como proposto por Illich, surge como uma estratégia para não deixarmos despercebidos contextos problemáticos da proposta desses usos, uma vez que “pensar desde o Sul implica em dialogar com os conceitos produzidos pelo Norte, atentos ao risco de subordinação a eles”11 (p. 291).
Deste modo, num primeiro momento, o conceito de iatrogenia será abordado através do debate realizado pelo polímata Ivan Illich, buscando expandir sua segunda crítica social à saúde, focada na noção de corpo. Em seguida, destaca-se os mitos da modernidade/colonialidade na construção desse ethos de humanidade ocidental, reatualizados e passíveis de serem percebidos em suas expressões iatrogênicas. Através do campo denominado biomelhoramento, a proposta é compreender criticamente a dimensão de discursos hegemônicos oriundos de países imperialistas e como as reflexões bioéticas têm sido agenciadas sob pautas neoliberais. Por fim, destaca-se a importância da mobilização de categorias estratégicas, como a iatrogenia, para um alargamento de uma base epistemológica crítica desse campo interdisciplinar que é a Bioética.
Metodologia
O presente texto possui abordagem qualitativa, com revisão crítica de artigos científicos e obra de referência1 que estabelecessem diálogos entre a Bioética, a Saúde Coletiva e as Ciências Sociais e Humanas. A obra “Nêmesis da Medicina: A expropriação da saúde” (1975) de Ivan Illich como autor em destaque para a construção epistemológica aqui proposta visou aprofundar a compreensão de temas complexos e multifacetados alocados no texto de maneira deliberada, como a iatrogenia e a medicalização da vida, cujas abordagens demandam sinergia pluri epistêmica13.
A revisão de literatura aqui utilizada é de tipo narrativa, que diferentemente da revisão de tipo sistemática ou integrativa, assume aspectos subjetivos na seleção da literatura, possibilitando também uma amplitude epistêmica para pensar o tema24,25. Os descritores utilizados para a busca de produção bibliográfica nas plataformas de acesso público foram relacionados aos termos de iatrogenia, human enhancement, biomelhoramento ou melhoramento humano, transhumanismo, colonialidade da vida, bioética critica, com ênfase na produção acadêmica nacional em diálogo com a produção norte centrada.
O percurso metodológico foi feito em consonância com teorias que contribuem para pensar a bioética num contexto de crítica à colonialidade. Em contrapartida, o referencial teórico dos autores transumanistas, ou bioliberais, se deu pelo reconhecimento da relevância e divulgação do pensamento da escola de Oxford, possibilitando uma oportuna discussão crítica em âmbito internacional.
Iatrogênese do corpo: sobre “o maior agente patógeno de hoje”
O conceito de iatrogenia, ou iatrogênese, foi explorado pelo pensador Ivan Illich, figura emblemática e imprescindível para o campo da saúde, autor de importantes obras como La Sociedad Desescolarizada (1971), Energía y Equidad (1974), Nêmesis Médica (1975). É neste último, ‘Nêmesis médica: a expropriação da saúde’1, que o autor apresenta o conceito. Em seu sentido mais amplo, a iatrogênese pode ser aplicada para indicar os efeitos que a instituição-empresa médica provoca sobre a saúde, intencionalmente ou não, considerando seu impacto direto, assim como suas transformações nas dimensões sociais e simbólicas1. Essa instituição médica, segundo o autor, funciona como uma empresa profissional de matriz ideológica, próxima a uma ‘oficina de reparos’ e ainda, fundada sob os mitos modernos de substituição da figura do ‘clérigo’ para a do ‘médico’ no cuidado do sofrimento, na lógica de uma morte controlável, de um corpo defeituoso e na possibilidade de mercantilização da vida.
Illich chegou a caracterizar três (3) tipos de iatrogenia e os danos intrínsecos à instituição médica, a saber: a iatrogenia clínica, a iatrogenia social e a iatrogenia cultural (estrutural)1. É importante destacar que todas essas categorias são camadas de uma mesma problemática, definidas assim pelo autor com propósito de dimensionar as profundidades da colonização médica na vida e “assim desenvolver uma taxinomia dos níveis da contraprodutividade global, que poderá ser aplicada à maioria das outras instituições”1 (p.91).
A primeira dimensão é a iatrogênese clínica, talvez a mais perceptível no corpo, por se tratar dos efeitos secundários do conjunto de atos médicos geradores de dano. Aqui temos uma linha tênue entre iatrogênese e erro médico. Em aliança com a instituição jurídica, a instituição médica assume que alguns de seus “erros”, atos geradores de dano e eventos adversos, fazem parte inerente e sem as quais o cuidado oferecido não poderia ser executado. O problema diante disso diz respeito à responsabilização, pois ela acaba desembocando numa despersonalização dos atos. A responsabilidade desses agentes torna-se a de buscar acompanhar a terapêutica, ou a intervenção, de outras intervenções secundárias que possam amenizar ou diminuir os danos iatrogênicos, e fornecer as corretas informações sobre os danos previstos que seriam inerentes ao cuidado oferecido, e assim, não terem pacientes reivindicando justiça diante dos danos desse “mal necessário”1.
Trata-se de uma responsabilidade institucional e técnica que retira ou esconde a ambivalência moral dos atos médicos. Nesse ponto, a iatrogenia passa a ser compreendida aqui como categoria que protege juridicamente a intervenção médica, distinguindo-se do “erro médico” passível de punição. Essa apropriação jurídica contribui significativamente para que o conceito perca seu viés crítico, implicando no reconhecimento de uma responsabilidade sem ambivalência, isto é, como se o protocolo da sequência de intervenções fosse já a resposta certa e responsável. Com a transferência das responsabilidades do campo ético para o problema técnico, “a negligência se transforma em erro humano aleatório, a insensibilidade em desinteresse científico, e a incompetência em falta de equipamento”1 (p. 27). Assim, o conceito de iatrogenia vem sendo apropriado pelos detentores dos cuidados em saúde como referindo-se a um mal justificado e como resposta dada.
O segundo tipo, a iatrogenêse social, não se refere a ação técnica direta, mas corresponde ao efeito social não desejado e danoso da medicina, considerando os impactos sociais mobilizados por injustiças sociais estruturais de desigualdade que se perpetuam nos sistemas institucionais. Essa iatrogenia social seria então uma patologia onde a dependência da ação médica se expressa através de instituições e “aparelhos burocráticos que permitem o funcionamento da instituição médica”14 (p. 267). Para Illich, trata-se de uma iatrogenia percebida no seu contexto sócio-econômico geral e “pode ser caracterizado como a eliminação do status de saúde graças à multiplicação ilimitada dos papéis de doente”1 (p.71). Nesse sentido, podemos articular uma crítica ao pressuposto básico de que teríamos um corpo fraco, carente e dependente da empresa médica, uma vez que
O poder da medicina de outorgar o papel de doente foi dissolvido pela pretensão de proporcionar cuidados universais. A saúde deixou de ser a propriedade natural de que cada homem é presumivelmente dotado até que seja provado que ele está doente. Ela se transformou nesse sonho inacessível, nessa promessa sempre longínqua a que cada um pode pretender em virtude dos princípios da justiça social1 (p.73).
Percebendo o fenômeno da medicalização das categorias sociais, Illich caracteriza a iatrogenia social como sendo uma desarmonia entre o indivíduo e o meio social e físico das cidades, que tende a se organizar sem ele e contra ele, resultando em situações de opressão e exclusão1. Um exemplo é a etiquetagem iatrogênica das diferentes idades da vida humana. A medicalização da velhice ou da primeira infância, por exemplo, são o que o autor chama de riscos de uma especialização médica que organiza pacientes por categorias, já que todas “as idades são medicalizadas, tal como o sexo, cociente intelectual ou a cor da pele” 1(p.59). Tornando assim a medicalização um instrumento reprodutor de uma “sociedade de classes”1 (p.60). Para o autor, esse fenômeno existe “nos países pobres onde é muitas vezes chamado, por eufemismo de processo de modernização”1 (p. 60).
A terceira tipificação proposta por Illich é a iatrogênese cultural, também chamada de iatrogenia estrutural, referente à colonização (bio)médica, uma vez que “ao colonizar uma cultura tradicional, a civilização moderna transforma a experiência da dor, tornando-a sinal de alarme, que apela para uma intervenção exterior, a fim de interrompê-la”15 (p.1194). É com base na fidelidade e no servilismo crescente à terapêutica1 que o estado de espírito coletivo de uma população é afetado, resultando numa “regressão estrutural do nível de saúde” (p.125) que seria a iatrogênese estrutural.
Na década de 90, Illich afirmou haver uma nova forma de iatrogênese relacionada ao corpo e as práticas conexas. Trata-se da análise de um contexto sócio-histórico marcado por uma “obsessão pela saúde, por meio de atividades físicas, dietas, cirurgias etc.; com o consumismo e a busca por um corpo sadio tornando-se o maior agente patógeno para a saúde” 15 (p.1188). Hoje, mais de 30 anos depois, o Brasil é o país líder no ranking de cirurgias plásticas e intervenções estéticas. São inúmeros os reforços subjetivos midiáticos, formativos, mercantis a respeito do melhoramento do corpo, do adiamento do envelhecer, do que seria a saúde perfeita, no geral, com corpos padronizados em cor, gênero e formato. Há uma veiculação de imagens e de práticas de cuidado com o corpo que são difundidas pela mídia, e que acabam instituindo uma “pseudoautonomia iatrogênica”15 (p.1195). Assim, no lugar de contribuir para uma autonomia consciente dos modos de cuidado em saúde, vemos um crescente consumismo em que ocorre uma reificação do corpo, tratado como mercadoria em obsolescência programada.
A crença da eficácia médica para uma boa saúde é pedra angular da invasão sem limites da medicina na vida, uma vez que “não é preciso estar doente para se transformar num paciente"1 (p.61). A presença excessiva da empresa médica na vida das pessoas, segundo o autor, retira diretamente a capacidade geradora das pessoas de produzir seus próprios antígenos. Para Illich, a instituição médica
reforça os aspectos terapêuticos das outras instituições do sistema industrial e atribui funções higiênicas subsidiárias à escola, à polícia, à publicidade e mesmo à política o mito alienador da civilização médica cosmopolita chega assim a se impor bem além do círculo em que a intervenção do médico pode se manifestar1 (p.123).
Assim, a institucionalização da saúde como medicina, da educação como escola, da justiça como prisão, compõe uma rede institucional de sequestro16, onde os indivíduos são excluídos de sua origem comunitária ancestral, de seu modo sistêmico de gerência da vida, para serem incluídos (inclusão por exclusão) em instituições onde são fixados à um regime de ordenamento de seus corpos, afetos e almas. A política (biopolítica) que esse regime produz é a do monopólio da vida, um poder de “vigiar e punir” que se impõe aos indivíduos tomados individualmente, desarticulando os relacionamentos e impondo regras e normas de conduta para os corpos, dominando toda dimensão temporal da vida e justificando tudo isso com a construção de um saber-poder que chamamos de ciência. Segundo Foucault16 (2003),
Se fizéssemos uma história do controle social do corpo, poderíamos mostrar que, até o século XVIII inclusive, o corpo dos indivíduos é essencialmente a superfície de inscrição de suplícios e de penas; o corpo era feito para ser suplicado e castigado. Já nas instâncias de controle que surgem a partir do século XIX, o corpo adquire uma significação totalmente diferente; ele não é mais o que se deve ser suplicado, mas o que deve ser formado, reformado, corrigido, o que deve adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar (p.119)
É importante em nossa reflexão a indicação de que o ingresso no regime e expediente da institucionalização, nos impõe o toque de “formar, reformar, corrigir, adquirir aptidões, receber qualidades” como indivíduos apartados, segregados e alienados de si. Nesse sentido, a proposta de biomelhoramento não só faz moto-contínuo com a gestão biopolítica dos corpos denunciada por Foucault, como pode potencializar substancialmente a sociedade do controle por uma internalização do processo que apaga os rastros. Se houver um dia a “pílula da moralidade”, teremos um reforço muito eficiente para que em nosso senso comum a discussão moral se restrinja a qualificar indivíduos a agir de modo “melhor”, perdendo assim o horizonte em que a moral se dá antes como forma de expressão da pluralidade e a responsabilidade pelo seu modo relacional.
Reatualizando mitos modernos: o melhoramento da vida colonizada
a ordem do mundo fundava-se num dualismo inaugural que encontrava parte das suas justificações no velho mito da superioridade racial. Na sua ávida necessidade de mitos destinados a fundamentar o seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro do globo, o país natal da razão, da vida universal e da verdade da Humanidade. Sendo o bairro mais civilizado do mundo, só o Ocidente inventou um «direito das gentes»17. (p.27)
Na mitologia grega ocidental clássica, o mito de Pandora retrata uma história sobre a corrupção/desvio do homem de seu destino na terra, deixando de ser alguém que interpreta sonhos para se tornar um ser que planeja e domina a técnica. Haviam dois irmãos: Prometeu, aquele que olha para frente, o planejador, e seu irmão Epimeteu, aquele que olha para trás. Apesar das advertências de Prometeu a Epimeteu, este se apaixona por Pandora e fica com ela. Em seguida, a história diz que ela abriu a caixa feita pelos deuses para aprisionar todos os males e doenças e todos os demônios acabaram se soltando, com exceção de um, a esperança. Epimeteu consegue manter este único presente que não escapou18.
A mitologia clássica, desde essa época focou-se no futuro, na tentativa de pôr de volta em uma caixa todas as palavras que Pandora deixou escapar. Esse ethos ocidental de planejar o destino da terra se reatualiza no discurso moderno/colonial de que uma vida planejada (“fit for the future”4), possui maior valor moral. Prometeu, aquele que conferiu a humanidade a capacidade de uso da técnica, desviou-a de seu vínculo originário, sobrepondo o privilégio à figura do “planejador”, no lugar do “sonhador”. Assim, esse valor atribuído ao ethos planejador desenvolveu-se como uma forma de subjetividade associada ao domínio da técnica e à autonomia do sujeito. Importante destacar que
as técnicas não são em si mesmas culturalmente neutras porque, tendo tomado forma concreta no seio das civilizações ocidentais, constituem expressão de um ethos ocidental. A imagem que o homem branco tem da morte espalhou-se com a civilização médica e contribuiu poderosamente para a colonização cultural1 (p.160)
Falar em colonialidade da vida6, do poder/saber/ser, é destacar como os mitos fundacionais do eurocentrismo contribuem na produção e reprodução dos padrões de poder e dominação geopoliticamente situados. Segundo Quijano (2005), a raça é a categoria básica de codificação das relações entre europeus e não-europeus na modernidade19. O autor explica como, através do expansionismo colonial da Europa sob o restante do mundo, esta inaugura uma perspectiva euro-centrada do conhecimento, com suas práticas já históricas de dominação, apagamento e falseamentos. Esses mitos sobre as trajetórias civilizacionais abrangem tanto a noção de passagem de um estado de natureza a um estado civilizado que “culmina” na Europa, quanto a disseminação da ideia de que as diferenças partem de uma “natureza (racial)” e não de histórias de poder19.
Tendo em vista que a colonialidade da vida6 baseia-se na hierarquização de existências desde uma lógica racial, são vastas as aproximações entre o chamado racismo científico e darwinismo social quando se trata de vida, futuro e humanidade. Destaca-se ainda que a colonialidade da vida não se ordena somente em uma noção biológica de vida, apesar de ter sido essa a justificativa de raça na América Latina, mas também se dá na “afirmação médica, religiosa, econômica e política que ao se articular com outras afirmações estratificam de maneira estratégica as vidas para melhor dominar algumas”12 (p. 293).
Não é de hoje que o debate sobre as iniciativas, sejam elas naturais ou artificiais, de melhoramento da vida humana são foco de escrínio moral e ético, para além dos limites da noção de terapêutica e técnica como agentes supostamente divergentes. É nesse contexto que nos deparamos atualmente com o campo de estudos sobre human enhancement, muitas vezes traduzido como melhoramento biomédico ou biomelhoramento humano4,10,20. Configurado de maneira interdisciplinar, este campo remete à busca deliberada de melhorar as capacidades, características e desempenho humanos além dos limites considerados “normais” ou “naturais”, com uso de tecnologias, terapias, intervenções ou práticas de aprimoramento, ou melhoramento das capacidades humanas, sejam elas físicas, cognitivas, emocionais e outras.
Considerando os múltiplos interesses e vieses que compõe esse polifônico campo de debate, surge uma espécie de “polarização” de discursos em que há dois supostos polos. No geral, de um lado um polo composto pelos chamados bioconservadores e pelo outro dos chamados transumanistas. Normalmente,
os transumanistas recebem três acusações fundamentais, sendo chamados de anti-humanistas perigosos, pragmáticos sem valores, e ingênuos e inconsequentes tecnoprofetas. Os transumanistas rejeitam a acusação de que seriam desumanizadores, em um sentido negativo, deletério. Ao contrário, se houver alguma desumanização, uma vez que perspectivam o pós-humanismo, isso terá um sentido positivo, beneficente. A partir da(o) ideia/objetivo do “humano mais” (Human Plus), os transumanistas apontam fundamentalmente que as características (biológicas) do humano devem ser alteradas, tornando-o mais “feliz”, “saudável”, longevo20. (p.347)
Os transumanistas também são nomeados como pró-melhoramento – ou anti-anti-melhoramento. Já os bioconservadores, ou o polo anti-melhoramento, alegam que esse conservadorismo não viria necessariamente de “um sentido tradicional, mas sim em um mais fundamental, pois ‘ao invés de tentar proteger alguns modos de agir, eles veem-se como protetores tanto da humanidade quanto do significado humano”20 (p.343). Nesse dissenso,
enquanto uns defendem que a condição pós-humana será o resultado mais promissor do real poder beneficente da biotecnociência, pois ela representaria o ápice do melhoramento humano, outros temem que o seu eventual poder maleficente comprometa radical e incontornavelmente a natureza humana e tudo que, tradicionalmente, tem sido fundamentado nela20 (p.342).
Num cenário de suposta “polarização”, com muitos obstáculos para o diálogo, segundo Buchanan (2011), trata-se de um debate alimentado por retóricas obscuras disfarçadas de argumento, afirmações sem amparo em fatos, e pela dicotomia pró versus contra21. Essa caracterização do campo bioético e
do debate em torno do biomelhoramento humano revela alguns sérios embaraços ao desenvolvimento de um debate qualificado, que dê conta das exigências teóricas e implicações práticas de temas complexos que são irredutíveis a simplificações polarizadoras e a uma postura militante, ainda que muito bem intencionada5 (p.782)
Falar em melhoramento num sistema-mundo configurado de forma racista, sexista e desigual requer uma abordagem politizada e atravessada pela interseccionalidade das opressões. É notório que as discussões binárias se fundamentam no paradigma eurocentrado do que seja uma perspectiva universalizante de ‘natureza humana’. Isto é, colocando indevidamente de um “lado mal” quem ameaçaria a natureza humana, “tentando “melhorá-la”, e quem supostamente a protegeria (lado do “bem”), mantendo-a estruturalmente precária”20 (p.343). Para os transumanistas, ou melhor, bioliberais 2
É irracional não tomar um atalho quando o objetivo é melhorar o bem-estar humano. Deveríamos ser mais lentos em imaginar que o sofrimento leva ao crescimento e à compreensão, e mais rápidos em lembrar que às vezes ele apenas esmaga as almas humanas2 (p.12).
No trecho acima é possível identificar o que Illich aborda em sua ampliação do conceito de iatrogenia estrutural a respeito da colonização civilizatória moderna e sua tática de conversão da experiência da dor, “tornando-as sinais de alarme, que apelam para uma intervenção exterior, a fim de interrompê-las”15 (p.1194). Para ilustrar esse desejo incessante de ter acesso a melhorias ilimitadas na saúde e evitar a morte, o envelhecimento e o sofrimento, o autor retoma o mito grego da Nêmesis vingativa, um monstro material que nasceu do sonho industrial, de faceta endêmica e estrutural. A nêmesis médica é uma “expropriação do querer viver do homem por um serviço de conservação que se encarrega de mantê-lo em estado de marcha para benefício do sistema industrial”1 (p.193).
Quando Illich afirma que um país não precisa ser rico para conhecermos a iatrogenia estrutural, pois o fenômeno existe nos países pobres como “processo de modernização”1, o autor nos possibilita um possível espelhamento semântico entre modernização/colonialidade/iatrogenia, análise chave da leitura aqui proposta desde um olhar crítico à colonialidade, denunciando a desproporcionalidade empregada para noção de autonomia como um “individualismo exacerbado que poderia chegar até mesmo a um egoísmo capaz de anular qualquer visão inversa, coletiva e indispensável ao enfrentamento das tremendas injustiças relacionadas com a exclusão social”22 (p. 128).
Considerando a finitude de nossos recursos materiais e a insaciabilidade do progresso científico ocidental, certas indagações encontram ecos, tais como: havendo biotransformações na sociedade consideradas legítimas, como se daria seus acessos e disponibilização? Sua concepção será baseada num conhecimento pretensamente universal ou “deve estar aberta à pluralidade de concepções do que seja uma boa vida?”20 (p.62). Quais serão os critérios, senão interesses hegemônicos -coloniais, que guiarão a produção científica do melhor caminho civilizatório planetário?
Considerações finais
O presente texto buscou refletir sobre o conceito de iatrogenia como uma importante categoria bioética, a partir das contribuições do pensador Ivan Illich, posicionado aqui como potente base epistemológica critica a colonialidade. Sendo a bioética um território de encontro multi-inter-transdisciplinar, as categorias são compartilhadas por diversos setores da produção de conhecimento e movimentos sociais, o que torna o uso desses conceitos e categorias uma característica estratégica de articulação política para o campo, no sentido de mobilizar a construção de sentidos, afetos e razões para o embate.
O conceito de iatrogenia nos revela a face contraprodutiva do processo de modernização. A medicina enquanto um poder hegemônico normaliza a violência inerente das relações de cuidados em saúde. Ademais, essa contraprodutividade e violência seguem atualizados nos ideais neoliberais de biomelhoramento moral. É notório, dado o interesse das Big Farmas e a inegável não-neutralidade da produção do saber científico que, num contexto de sistema capitalista, os interesses econômicos são hegemônicos e os desejos são colonizados.
O fenômeno do biomelhoramento humano, apesar de trazer novidades que nos fazem ter de pensar o humano em sentidos inéditos, também faz parte de uma continuidade coerente com o projeto civilizatório vigente comandado pelo utilitarismo e correlacionado com a mercantilização da vida. Se há, por um lado, aspectos de inovação da biotecnologia, por outro lado as narrativas morais que acompanham e dão sentido à proposta de biomelhoramento não alteram o jogo institucional biopolítico de controle social pelo enfraquecimento do indivíduo. Enfatiza-se que, pensar num corpo “perfeito”, “saudável”, “aprimorado” é necessariamente seguido por uma imagem-pensamento hegemônica de corpos que sejam os padrões universais de humanidade, isto é, corpos brancos, heteronormativos, masculinos, individuais, autossuficientes, revelando a faceta moderna/colonial desse imperialismo moral23.
O tipo de conhecimento que sustenta a tese do biomelhoramento moral se organiza conjuntamente com um movimento político de controle social. Em termos epistemológicos, trata-se de um conhecimento que se funda por uma atitude de controle e que está centrada na suposta autonomia moral e cognitiva do sujeito. No entanto, ao falar em agir para melhorar sem considerar estruturalmente as iniquidades que compõem as relações, o pensamento bioliberal abdica de uma postura dialógica, contribuindo para a normalização da violência e da escassez. Nesse sentido, nossos projetos de futuro, sonhos, vida e sociedade devem ser necessariamente politizados, atendo-se às iniquidades estruturais (racismo, sexismo, especismo, classismo) e à libertação social, pois todo melhoramento que não for pensado a partir desses condicionantes será um aprofundamento do nosso enredo colonial. Espera-se que as reflexões aqui cotejadas tenham o potencial de ofertar perspectivas críticas e posicionadas para os diferentes campos científicos.
Referências Bibliográficas
1. Illich, I. Expropriação da Saúde. Nêmesis da Medicina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 1975.
2. Earp BD, Wudarczyk OA, Sandberg A, Savulescu J. If I could just stop loving you: anti-love biotechnology and the ethics of a chemical breakup. American Journal of Bioethics, 2013.
3.Persson I, Savulescu J. The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative to enhance the moral character of humanity. J Appl Philos, 2008 ; 25(3): 162-177.
4.Persson I, Savulescu J. Unfit for the future: the need for moral enhancement. Oxford University Press, Oxford. 2012.
5. Vilaça, M. Contra A Perfeição, O Melhoramento Humano Ou Pela Dádiva? Uma Análise Dos Argumentos De Michael Sandel Sobre A Engenharia Genética. SRF. 6 de dezembro de 2021;48(152):779.
6. Nascimento, WF. Por uma vida descolonizada: diálogos entre a bioética de intervenção e os estudos sobre a colonialidade. 2010. Tese (Doutorado em Bioética) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
7. Oliveira, F. Feminismo, luta anti-racista e bioética. cadernos pagu. (5) 1995: pp. 73-107.
8. Oliveira, F. Para onde caminha a humanidade sob os signos das bios (tecnologia e ética)? IN Saúde em debate, nº 45/dezembro 1994, pp. 32 a 37.
9. Holanda, MAF. Por uma e?tica da (In)Dignac?a?o: repensando o Humano, a Dignidade e o pluralismo nos movimentos de lutas por direitos. 2015. Tese (Doutorado em Bioética) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
10. Griner, A. Entre sinapses e hormônios: medicalização do amor, subjetividades e a bioética dos afetos e das intimidades. 2019. 224 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas e Saúde; Epidemiologia; Política, Planejamento e Administração em Saúde; Administra) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
11.Feitosa SF, Nascimento WF. A bioética de intervenção no contexto do pensamento latino-americano contemporâneo. Rev Bioét [Internet] 2015; May;23(2): 277–84. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983-80422015232066
12. Nascimento, WF, Garrafa, V. Por uma vida não colonizada: diálogo entre bioética de intervenção e colonialidade. Saúde soc [Internet] 2011 ; 20(2):287–99. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-12902011000200003
13.Mignolo, WD. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistémica. In B. de S. Santos Ed., Conhecimento prudente para uma vida decente (pp. 631671). Porto: Afrontamento, 2003.
14. Bello-Urrego, A, Garrafa, V. Crítica à instituição médica moderno-industrial a partir do microssistema linguístico de Ivan Illich. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 2018; 42(116):261-271.
15. Tabet LP, Martins V, Romano A, Monsores N, GarrafaV. Ivan Illich: da expropriação à desmedicalização da saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 2017; 41(115): 1191-1202.
16. Foucault, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003.
17. Mbembe, A. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona. 2014
18. Illich, I. Entrevista legendada com o pedagogo anarquista Ivan Illich, Canal Obladi Oblada, 2016. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=feHCNEdLSDE
19. Quijano, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In:. Lander, E (comp.). La colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas; Buenos Aires: Clacso, 2005.
20. Dias, MC, Vilaça, M. Transumanismo e o futuro (pós-)humano. Physis: Revista De Saúde Coletiva, 24 Physis, 2014.
21. Buchanan, A. Beyond humanity? The Ethics of Biomedical Enhancement. Oxford University Press, 2011.
22. Garrafa, V. Da bioética de princípios a uma bioética interventiva. Revista Bioética, vol. 13, núm. 1, pp. 125-134 Conselho Federal de Medicina Brasília, Brasil. 2005.
23. Garrafa V, Lorenzo C. Moral imperialism and multi-centric clinical trials in peripheral countries. Cad Saúde Pública [Internet] 2008; 24(10):2219–26.
24. Cavalcante, Lívia Teixeira Canuto e Oliveira, Adélia Augusta Souto de. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. Psicol. rev. (Belo Horizonte) [online]. 2020, vol.26, n.1, pp.83-102.
25. Rother, E. T.. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta Paulista de Enfermagem, v. 20, n. 2, p. v–vi, abr. 2007.
O presente artigo propõe uma reflexão sobre o conceito de iatrogenia, tal como ele é proposto por Ivan Illich1(1926-2002), importante autor para a saúde pública e demais esferas da vida passíveis de capturas institucionais. Trata-se de uma categoria crítica e reveladora dos processos de violência inerentes às práticas e saberes médicos. A partir dessa reflexão, pretendemos avaliar as promessas transumanistas de biomelhoramento, ou aprimoramento humano, em que pese o argumento moral de progresso e desenvolvimento do ser humano. O interesse pela iatrogenia nessa discussão se justifica por ser um conceito que não nos deixa esquecer da violência encoberta na rotina do intervencionismo médico e demais ações da chamada “empresa médica”, objetificadora da vida e do corpo. Reações adversas a medicamentos, erros médicos, violência hospitalar, complicações cirúrgicas, “eventos adversos”, infecções, procedimentos desnecessários, mas também problemas sociais, iniquidades e desigualdades estruturais, como falta de saneamento básico, analfabetismo, racismo, pobreza, marginalização, misoginia podem ser interpretadas como formas de iatrogenia, sejam elas clínica, social, cultural ou estrutural1.
O termo "iatrogenia" provém da língua grega, "iatros" significa médico e "gênesis" significa origem, indicando um fenômeno adverso que tem sua origem na própria atividade médica em si. No entanto, Ivan Illich1 propõe em seu uso crítico do termo, uma ampliação pela compreensão social e cultural do fenômeno iatrogênico, para além dos fenômenos da iatrogenia clínica. Assim, aqui reposicionada em seus aspectos críticos como importante objeto para o campo bioético, a iatrogenia não se dá somente pelos chamados efeitos indesejados provocados pela instituição médica, mas está na própria medicalização da vida e na mercantilização da cura.
Nesse contexto, estamos diante de posicionamentos bioéticos que se contrapõem. Uma bioética transumanista impulsionada pelo suposto dever moral de promover intervenções e correções biológicas para comportamentos morais, crente de que o avanço biotecnológico protagonizado pelo ocidente tem um papel salvacionista para a humanidade2-5. Por outro lado, existem posicionamentos bioéticos críticos mobilizados no exercício de desvelar as formas pelas quais as narrativas humanistas hegemônicas ocidentais mantêm sua dominação pela negação da alteridade na construção da identidade, como no caso do racismo, do sexismo, do classicismo, do especismo e demais opressões6-9. O argumento ético ou de dever moral em prol da ideia universal de “humanidade” é um debate central para o campo da Bioética.
A princípio, a ideia de que podemos, ou “devemos” aprimorar o caráter moral da humanidade não parece trazer muitos problemas. Tendemos a concordar com esse imperativo, uma vez que percebemos que esse intuito faz parte do objetivo de muitas instituições sociais, em culturas diversas, que propagam formas de “progressão”, “evolução”, “desenvolvimento” e “aprimoramento” seja pela medicina, pedagogia, literatura, filosofia, religiosidade, alimentação, estética, etc. Entendemos, no geral, a moral como algo que se aprende e que podemos e/ou devemos nos aprimorar.
No entanto, a proposta do biomelhoramento (human enhancement) envolve métodos que até então não haviam sido empregados como um caminho de aprendizagem moral: o uso de medicações destinadas à “modulação moral”, envolvendo alterações emocionais induzidas e “correções comportamentais”2,10 causadas por processos descritos, analisados e interpretados do ponto de vista das ciências biológicas e do modo da razão ocidental em seu caráter universalizante. Assim, pensar o biomelhoramento como algo universal, em contextos de assimetrias de poder, heranças coloniais e desigualdades estruturais, nos desafia a perspectivar desde o sul global, quais impactos podem ocorrer com a disseminação das práticas dessas novas tecnologias biológicas e suas consequentes formas de captura e expropriação da vida8. Nesse sentido, intervenções médicas visando para além de “cura de doenças”, como o “melhoramento humano”, também poderiam ser enquadradas entre as possíveis expressões da iatrogenia, implicadas tanto nos aspectos clínicos quanto sócio-históricos e estruturais.
Os teóricos bioeticistas do pensamento hegemônico sobre biomelhoramento2,3, situados no norte global10, defendem que há um imperativo urgente em aprimorar o caráter moral da humanidade, e que estamos descobrindo com o advento das biotecnologias e as pesquisas sobre as possibilidades de neuro-aprimoramento moral, modos de “garantir futuros para a humanidade” e projetar os sentidos mais justos, benevolentes e éticos para nossa existência3. Nomeações como bioconservadores, bioliberais, transumanistas, anti-anti-melhoramento, entre outros, adjetivam essa disputa em curso que ainda se enraíza, geopoliticamente, em países de história colonialista e economia imperialista. Trata-se de uma disputa que entrelaça os temas fundamentais da bioética, como “vida”, “humanidade” e “futuro”.
Por isso, torna-se importante posicionar uma discussão bioética desde o sul global, pois estamos diante de “novas” promessas coloniais num contexto de desigualdades estruturais11,12. Assim, pretendemos aqui destacar os aspectos escamoteados pelos argumentos apresentados nesse cenário atual sobre biomelhoramento, considerando que se trata de uma via de desenvolvimento de grande interesse para a famigerada indústria farmacêutica, a Big Farma e demais mercados que lucram consideravelmente com o espólio da vida ampliada em captura colonial. Por isso, associar a essa discussão o conceito de iatrogenia, como proposto por Illich, surge como uma estratégia para não deixarmos despercebidos contextos problemáticos da proposta desses usos, uma vez que “pensar desde o Sul implica em dialogar com os conceitos produzidos pelo Norte, atentos ao risco de subordinação a eles”11 (p. 291).
Deste modo, num primeiro momento, o conceito de iatrogenia será abordado através do debate realizado pelo polímata Ivan Illich, buscando expandir sua segunda crítica social à saúde, focada na noção de corpo. Em seguida, destaca-se os mitos da modernidade/colonialidade na construção desse ethos de humanidade ocidental, reatualizados e passíveis de serem percebidos em suas expressões iatrogênicas. Através do campo denominado biomelhoramento, a proposta é compreender criticamente a dimensão de discursos hegemônicos oriundos de países imperialistas e como as reflexões bioéticas têm sido agenciadas sob pautas neoliberais. Por fim, destaca-se a importância da mobilização de categorias estratégicas, como a iatrogenia, para um alargamento de uma base epistemológica crítica desse campo interdisciplinar que é a Bioética.
Metodologia
O presente texto possui abordagem qualitativa, com revisão crítica de artigos científicos e obra de referência1 que estabelecessem diálogos entre a Bioética, a Saúde Coletiva e as Ciências Sociais e Humanas. A obra “Nêmesis da Medicina: A expropriação da saúde” (1975) de Ivan Illich como autor em destaque para a construção epistemológica aqui proposta visou aprofundar a compreensão de temas complexos e multifacetados alocados no texto de maneira deliberada, como a iatrogenia e a medicalização da vida, cujas abordagens demandam sinergia pluri epistêmica13.
A revisão de literatura aqui utilizada é de tipo narrativa, que diferentemente da revisão de tipo sistemática ou integrativa, assume aspectos subjetivos na seleção da literatura, possibilitando também uma amplitude epistêmica para pensar o tema24,25. Os descritores utilizados para a busca de produção bibliográfica nas plataformas de acesso público foram relacionados aos termos de iatrogenia, human enhancement, biomelhoramento ou melhoramento humano, transhumanismo, colonialidade da vida, bioética critica, com ênfase na produção acadêmica nacional em diálogo com a produção norte centrada.
O percurso metodológico foi feito em consonância com teorias que contribuem para pensar a bioética num contexto de crítica à colonialidade. Em contrapartida, o referencial teórico dos autores transumanistas, ou bioliberais, se deu pelo reconhecimento da relevância e divulgação do pensamento da escola de Oxford, possibilitando uma oportuna discussão crítica em âmbito internacional.
Iatrogênese do corpo: sobre “o maior agente patógeno de hoje”
O conceito de iatrogenia, ou iatrogênese, foi explorado pelo pensador Ivan Illich, figura emblemática e imprescindível para o campo da saúde, autor de importantes obras como La Sociedad Desescolarizada (1971), Energía y Equidad (1974), Nêmesis Médica (1975). É neste último, ‘Nêmesis médica: a expropriação da saúde’1, que o autor apresenta o conceito. Em seu sentido mais amplo, a iatrogênese pode ser aplicada para indicar os efeitos que a instituição-empresa médica provoca sobre a saúde, intencionalmente ou não, considerando seu impacto direto, assim como suas transformações nas dimensões sociais e simbólicas1. Essa instituição médica, segundo o autor, funciona como uma empresa profissional de matriz ideológica, próxima a uma ‘oficina de reparos’ e ainda, fundada sob os mitos modernos de substituição da figura do ‘clérigo’ para a do ‘médico’ no cuidado do sofrimento, na lógica de uma morte controlável, de um corpo defeituoso e na possibilidade de mercantilização da vida.
Illich chegou a caracterizar três (3) tipos de iatrogenia e os danos intrínsecos à instituição médica, a saber: a iatrogenia clínica, a iatrogenia social e a iatrogenia cultural (estrutural)1. É importante destacar que todas essas categorias são camadas de uma mesma problemática, definidas assim pelo autor com propósito de dimensionar as profundidades da colonização médica na vida e “assim desenvolver uma taxinomia dos níveis da contraprodutividade global, que poderá ser aplicada à maioria das outras instituições”1 (p.91).
A primeira dimensão é a iatrogênese clínica, talvez a mais perceptível no corpo, por se tratar dos efeitos secundários do conjunto de atos médicos geradores de dano. Aqui temos uma linha tênue entre iatrogênese e erro médico. Em aliança com a instituição jurídica, a instituição médica assume que alguns de seus “erros”, atos geradores de dano e eventos adversos, fazem parte inerente e sem as quais o cuidado oferecido não poderia ser executado. O problema diante disso diz respeito à responsabilização, pois ela acaba desembocando numa despersonalização dos atos. A responsabilidade desses agentes torna-se a de buscar acompanhar a terapêutica, ou a intervenção, de outras intervenções secundárias que possam amenizar ou diminuir os danos iatrogênicos, e fornecer as corretas informações sobre os danos previstos que seriam inerentes ao cuidado oferecido, e assim, não terem pacientes reivindicando justiça diante dos danos desse “mal necessário”1.
Trata-se de uma responsabilidade institucional e técnica que retira ou esconde a ambivalência moral dos atos médicos. Nesse ponto, a iatrogenia passa a ser compreendida aqui como categoria que protege juridicamente a intervenção médica, distinguindo-se do “erro médico” passível de punição. Essa apropriação jurídica contribui significativamente para que o conceito perca seu viés crítico, implicando no reconhecimento de uma responsabilidade sem ambivalência, isto é, como se o protocolo da sequência de intervenções fosse já a resposta certa e responsável. Com a transferência das responsabilidades do campo ético para o problema técnico, “a negligência se transforma em erro humano aleatório, a insensibilidade em desinteresse científico, e a incompetência em falta de equipamento”1 (p. 27). Assim, o conceito de iatrogenia vem sendo apropriado pelos detentores dos cuidados em saúde como referindo-se a um mal justificado e como resposta dada.
O segundo tipo, a iatrogenêse social, não se refere a ação técnica direta, mas corresponde ao efeito social não desejado e danoso da medicina, considerando os impactos sociais mobilizados por injustiças sociais estruturais de desigualdade que se perpetuam nos sistemas institucionais. Essa iatrogenia social seria então uma patologia onde a dependência da ação médica se expressa através de instituições e “aparelhos burocráticos que permitem o funcionamento da instituição médica”14 (p. 267). Para Illich, trata-se de uma iatrogenia percebida no seu contexto sócio-econômico geral e “pode ser caracterizado como a eliminação do status de saúde graças à multiplicação ilimitada dos papéis de doente”1 (p.71). Nesse sentido, podemos articular uma crítica ao pressuposto básico de que teríamos um corpo fraco, carente e dependente da empresa médica, uma vez que
O poder da medicina de outorgar o papel de doente foi dissolvido pela pretensão de proporcionar cuidados universais. A saúde deixou de ser a propriedade natural de que cada homem é presumivelmente dotado até que seja provado que ele está doente. Ela se transformou nesse sonho inacessível, nessa promessa sempre longínqua a que cada um pode pretender em virtude dos princípios da justiça social1 (p.73).
Percebendo o fenômeno da medicalização das categorias sociais, Illich caracteriza a iatrogenia social como sendo uma desarmonia entre o indivíduo e o meio social e físico das cidades, que tende a se organizar sem ele e contra ele, resultando em situações de opressão e exclusão1. Um exemplo é a etiquetagem iatrogênica das diferentes idades da vida humana. A medicalização da velhice ou da primeira infância, por exemplo, são o que o autor chama de riscos de uma especialização médica que organiza pacientes por categorias, já que todas “as idades são medicalizadas, tal como o sexo, cociente intelectual ou a cor da pele” 1(p.59). Tornando assim a medicalização um instrumento reprodutor de uma “sociedade de classes”1 (p.60). Para o autor, esse fenômeno existe “nos países pobres onde é muitas vezes chamado, por eufemismo de processo de modernização”1 (p. 60).
A terceira tipificação proposta por Illich é a iatrogênese cultural, também chamada de iatrogenia estrutural, referente à colonização (bio)médica, uma vez que “ao colonizar uma cultura tradicional, a civilização moderna transforma a experiência da dor, tornando-a sinal de alarme, que apela para uma intervenção exterior, a fim de interrompê-la”15 (p.1194). É com base na fidelidade e no servilismo crescente à terapêutica1 que o estado de espírito coletivo de uma população é afetado, resultando numa “regressão estrutural do nível de saúde” (p.125) que seria a iatrogênese estrutural.
Na década de 90, Illich afirmou haver uma nova forma de iatrogênese relacionada ao corpo e as práticas conexas. Trata-se da análise de um contexto sócio-histórico marcado por uma “obsessão pela saúde, por meio de atividades físicas, dietas, cirurgias etc.; com o consumismo e a busca por um corpo sadio tornando-se o maior agente patógeno para a saúde” 15 (p.1188). Hoje, mais de 30 anos depois, o Brasil é o país líder no ranking de cirurgias plásticas e intervenções estéticas. São inúmeros os reforços subjetivos midiáticos, formativos, mercantis a respeito do melhoramento do corpo, do adiamento do envelhecer, do que seria a saúde perfeita, no geral, com corpos padronizados em cor, gênero e formato. Há uma veiculação de imagens e de práticas de cuidado com o corpo que são difundidas pela mídia, e que acabam instituindo uma “pseudoautonomia iatrogênica”15 (p.1195). Assim, no lugar de contribuir para uma autonomia consciente dos modos de cuidado em saúde, vemos um crescente consumismo em que ocorre uma reificação do corpo, tratado como mercadoria em obsolescência programada.
A crença da eficácia médica para uma boa saúde é pedra angular da invasão sem limites da medicina na vida, uma vez que “não é preciso estar doente para se transformar num paciente"1 (p.61). A presença excessiva da empresa médica na vida das pessoas, segundo o autor, retira diretamente a capacidade geradora das pessoas de produzir seus próprios antígenos. Para Illich, a instituição médica
reforça os aspectos terapêuticos das outras instituições do sistema industrial e atribui funções higiênicas subsidiárias à escola, à polícia, à publicidade e mesmo à política o mito alienador da civilização médica cosmopolita chega assim a se impor bem além do círculo em que a intervenção do médico pode se manifestar1 (p.123).
Assim, a institucionalização da saúde como medicina, da educação como escola, da justiça como prisão, compõe uma rede institucional de sequestro16, onde os indivíduos são excluídos de sua origem comunitária ancestral, de seu modo sistêmico de gerência da vida, para serem incluídos (inclusão por exclusão) em instituições onde são fixados à um regime de ordenamento de seus corpos, afetos e almas. A política (biopolítica) que esse regime produz é a do monopólio da vida, um poder de “vigiar e punir” que se impõe aos indivíduos tomados individualmente, desarticulando os relacionamentos e impondo regras e normas de conduta para os corpos, dominando toda dimensão temporal da vida e justificando tudo isso com a construção de um saber-poder que chamamos de ciência. Segundo Foucault16 (2003),
Se fizéssemos uma história do controle social do corpo, poderíamos mostrar que, até o século XVIII inclusive, o corpo dos indivíduos é essencialmente a superfície de inscrição de suplícios e de penas; o corpo era feito para ser suplicado e castigado. Já nas instâncias de controle que surgem a partir do século XIX, o corpo adquire uma significação totalmente diferente; ele não é mais o que se deve ser suplicado, mas o que deve ser formado, reformado, corrigido, o que deve adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar (p.119)
É importante em nossa reflexão a indicação de que o ingresso no regime e expediente da institucionalização, nos impõe o toque de “formar, reformar, corrigir, adquirir aptidões, receber qualidades” como indivíduos apartados, segregados e alienados de si. Nesse sentido, a proposta de biomelhoramento não só faz moto-contínuo com a gestão biopolítica dos corpos denunciada por Foucault, como pode potencializar substancialmente a sociedade do controle por uma internalização do processo que apaga os rastros. Se houver um dia a “pílula da moralidade”, teremos um reforço muito eficiente para que em nosso senso comum a discussão moral se restrinja a qualificar indivíduos a agir de modo “melhor”, perdendo assim o horizonte em que a moral se dá antes como forma de expressão da pluralidade e a responsabilidade pelo seu modo relacional.
Reatualizando mitos modernos: o melhoramento da vida colonizada
a ordem do mundo fundava-se num dualismo inaugural que encontrava parte das suas justificações no velho mito da superioridade racial. Na sua ávida necessidade de mitos destinados a fundamentar o seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro do globo, o país natal da razão, da vida universal e da verdade da Humanidade. Sendo o bairro mais civilizado do mundo, só o Ocidente inventou um «direito das gentes»17. (p.27)
Na mitologia grega ocidental clássica, o mito de Pandora retrata uma história sobre a corrupção/desvio do homem de seu destino na terra, deixando de ser alguém que interpreta sonhos para se tornar um ser que planeja e domina a técnica. Haviam dois irmãos: Prometeu, aquele que olha para frente, o planejador, e seu irmão Epimeteu, aquele que olha para trás. Apesar das advertências de Prometeu a Epimeteu, este se apaixona por Pandora e fica com ela. Em seguida, a história diz que ela abriu a caixa feita pelos deuses para aprisionar todos os males e doenças e todos os demônios acabaram se soltando, com exceção de um, a esperança. Epimeteu consegue manter este único presente que não escapou18.
A mitologia clássica, desde essa época focou-se no futuro, na tentativa de pôr de volta em uma caixa todas as palavras que Pandora deixou escapar. Esse ethos ocidental de planejar o destino da terra se reatualiza no discurso moderno/colonial de que uma vida planejada (“fit for the future”4), possui maior valor moral. Prometeu, aquele que conferiu a humanidade a capacidade de uso da técnica, desviou-a de seu vínculo originário, sobrepondo o privilégio à figura do “planejador”, no lugar do “sonhador”. Assim, esse valor atribuído ao ethos planejador desenvolveu-se como uma forma de subjetividade associada ao domínio da técnica e à autonomia do sujeito. Importante destacar que
as técnicas não são em si mesmas culturalmente neutras porque, tendo tomado forma concreta no seio das civilizações ocidentais, constituem expressão de um ethos ocidental. A imagem que o homem branco tem da morte espalhou-se com a civilização médica e contribuiu poderosamente para a colonização cultural1 (p.160)
Falar em colonialidade da vida6, do poder/saber/ser, é destacar como os mitos fundacionais do eurocentrismo contribuem na produção e reprodução dos padrões de poder e dominação geopoliticamente situados. Segundo Quijano (2005), a raça é a categoria básica de codificação das relações entre europeus e não-europeus na modernidade19. O autor explica como, através do expansionismo colonial da Europa sob o restante do mundo, esta inaugura uma perspectiva euro-centrada do conhecimento, com suas práticas já históricas de dominação, apagamento e falseamentos. Esses mitos sobre as trajetórias civilizacionais abrangem tanto a noção de passagem de um estado de natureza a um estado civilizado que “culmina” na Europa, quanto a disseminação da ideia de que as diferenças partem de uma “natureza (racial)” e não de histórias de poder19.
Tendo em vista que a colonialidade da vida6 baseia-se na hierarquização de existências desde uma lógica racial, são vastas as aproximações entre o chamado racismo científico e darwinismo social quando se trata de vida, futuro e humanidade. Destaca-se ainda que a colonialidade da vida não se ordena somente em uma noção biológica de vida, apesar de ter sido essa a justificativa de raça na América Latina, mas também se dá na “afirmação médica, religiosa, econômica e política que ao se articular com outras afirmações estratificam de maneira estratégica as vidas para melhor dominar algumas”12 (p. 293).
Não é de hoje que o debate sobre as iniciativas, sejam elas naturais ou artificiais, de melhoramento da vida humana são foco de escrínio moral e ético, para além dos limites da noção de terapêutica e técnica como agentes supostamente divergentes. É nesse contexto que nos deparamos atualmente com o campo de estudos sobre human enhancement, muitas vezes traduzido como melhoramento biomédico ou biomelhoramento humano4,10,20. Configurado de maneira interdisciplinar, este campo remete à busca deliberada de melhorar as capacidades, características e desempenho humanos além dos limites considerados “normais” ou “naturais”, com uso de tecnologias, terapias, intervenções ou práticas de aprimoramento, ou melhoramento das capacidades humanas, sejam elas físicas, cognitivas, emocionais e outras.
Considerando os múltiplos interesses e vieses que compõe esse polifônico campo de debate, surge uma espécie de “polarização” de discursos em que há dois supostos polos. No geral, de um lado um polo composto pelos chamados bioconservadores e pelo outro dos chamados transumanistas. Normalmente,
os transumanistas recebem três acusações fundamentais, sendo chamados de anti-humanistas perigosos, pragmáticos sem valores, e ingênuos e inconsequentes tecnoprofetas. Os transumanistas rejeitam a acusação de que seriam desumanizadores, em um sentido negativo, deletério. Ao contrário, se houver alguma desumanização, uma vez que perspectivam o pós-humanismo, isso terá um sentido positivo, beneficente. A partir da(o) ideia/objetivo do “humano mais” (Human Plus), os transumanistas apontam fundamentalmente que as características (biológicas) do humano devem ser alteradas, tornando-o mais “feliz”, “saudável”, longevo20. (p.347)
Os transumanistas também são nomeados como pró-melhoramento – ou anti-anti-melhoramento. Já os bioconservadores, ou o polo anti-melhoramento, alegam que esse conservadorismo não viria necessariamente de “um sentido tradicional, mas sim em um mais fundamental, pois ‘ao invés de tentar proteger alguns modos de agir, eles veem-se como protetores tanto da humanidade quanto do significado humano”20 (p.343). Nesse dissenso,
enquanto uns defendem que a condição pós-humana será o resultado mais promissor do real poder beneficente da biotecnociência, pois ela representaria o ápice do melhoramento humano, outros temem que o seu eventual poder maleficente comprometa radical e incontornavelmente a natureza humana e tudo que, tradicionalmente, tem sido fundamentado nela20 (p.342).
Num cenário de suposta “polarização”, com muitos obstáculos para o diálogo, segundo Buchanan (2011), trata-se de um debate alimentado por retóricas obscuras disfarçadas de argumento, afirmações sem amparo em fatos, e pela dicotomia pró versus contra21. Essa caracterização do campo bioético e
do debate em torno do biomelhoramento humano revela alguns sérios embaraços ao desenvolvimento de um debate qualificado, que dê conta das exigências teóricas e implicações práticas de temas complexos que são irredutíveis a simplificações polarizadoras e a uma postura militante, ainda que muito bem intencionada5 (p.782)
Falar em melhoramento num sistema-mundo configurado de forma racista, sexista e desigual requer uma abordagem politizada e atravessada pela interseccionalidade das opressões. É notório que as discussões binárias se fundamentam no paradigma eurocentrado do que seja uma perspectiva universalizante de ‘natureza humana’. Isto é, colocando indevidamente de um “lado mal” quem ameaçaria a natureza humana, “tentando “melhorá-la”, e quem supostamente a protegeria (lado do “bem”), mantendo-a estruturalmente precária”20 (p.343). Para os transumanistas, ou melhor, bioliberais 2
É irracional não tomar um atalho quando o objetivo é melhorar o bem-estar humano. Deveríamos ser mais lentos em imaginar que o sofrimento leva ao crescimento e à compreensão, e mais rápidos em lembrar que às vezes ele apenas esmaga as almas humanas2 (p.12).
No trecho acima é possível identificar o que Illich aborda em sua ampliação do conceito de iatrogenia estrutural a respeito da colonização civilizatória moderna e sua tática de conversão da experiência da dor, “tornando-as sinais de alarme, que apelam para uma intervenção exterior, a fim de interrompê-las”15 (p.1194). Para ilustrar esse desejo incessante de ter acesso a melhorias ilimitadas na saúde e evitar a morte, o envelhecimento e o sofrimento, o autor retoma o mito grego da Nêmesis vingativa, um monstro material que nasceu do sonho industrial, de faceta endêmica e estrutural. A nêmesis médica é uma “expropriação do querer viver do homem por um serviço de conservação que se encarrega de mantê-lo em estado de marcha para benefício do sistema industrial”1 (p.193).
Quando Illich afirma que um país não precisa ser rico para conhecermos a iatrogenia estrutural, pois o fenômeno existe nos países pobres como “processo de modernização”1, o autor nos possibilita um possível espelhamento semântico entre modernização/colonialidade/iatrogenia, análise chave da leitura aqui proposta desde um olhar crítico à colonialidade, denunciando a desproporcionalidade empregada para noção de autonomia como um “individualismo exacerbado que poderia chegar até mesmo a um egoísmo capaz de anular qualquer visão inversa, coletiva e indispensável ao enfrentamento das tremendas injustiças relacionadas com a exclusão social”22 (p. 128).
Considerando a finitude de nossos recursos materiais e a insaciabilidade do progresso científico ocidental, certas indagações encontram ecos, tais como: havendo biotransformações na sociedade consideradas legítimas, como se daria seus acessos e disponibilização? Sua concepção será baseada num conhecimento pretensamente universal ou “deve estar aberta à pluralidade de concepções do que seja uma boa vida?”20 (p.62). Quais serão os critérios, senão interesses hegemônicos -coloniais, que guiarão a produção científica do melhor caminho civilizatório planetário?
Considerações finais
O presente texto buscou refletir sobre o conceito de iatrogenia como uma importante categoria bioética, a partir das contribuições do pensador Ivan Illich, posicionado aqui como potente base epistemológica critica a colonialidade. Sendo a bioética um território de encontro multi-inter-transdisciplinar, as categorias são compartilhadas por diversos setores da produção de conhecimento e movimentos sociais, o que torna o uso desses conceitos e categorias uma característica estratégica de articulação política para o campo, no sentido de mobilizar a construção de sentidos, afetos e razões para o embate.
O conceito de iatrogenia nos revela a face contraprodutiva do processo de modernização. A medicina enquanto um poder hegemônico normaliza a violência inerente das relações de cuidados em saúde. Ademais, essa contraprodutividade e violência seguem atualizados nos ideais neoliberais de biomelhoramento moral. É notório, dado o interesse das Big Farmas e a inegável não-neutralidade da produção do saber científico que, num contexto de sistema capitalista, os interesses econômicos são hegemônicos e os desejos são colonizados.
O fenômeno do biomelhoramento humano, apesar de trazer novidades que nos fazem ter de pensar o humano em sentidos inéditos, também faz parte de uma continuidade coerente com o projeto civilizatório vigente comandado pelo utilitarismo e correlacionado com a mercantilização da vida. Se há, por um lado, aspectos de inovação da biotecnologia, por outro lado as narrativas morais que acompanham e dão sentido à proposta de biomelhoramento não alteram o jogo institucional biopolítico de controle social pelo enfraquecimento do indivíduo. Enfatiza-se que, pensar num corpo “perfeito”, “saudável”, “aprimorado” é necessariamente seguido por uma imagem-pensamento hegemônica de corpos que sejam os padrões universais de humanidade, isto é, corpos brancos, heteronormativos, masculinos, individuais, autossuficientes, revelando a faceta moderna/colonial desse imperialismo moral23.
O tipo de conhecimento que sustenta a tese do biomelhoramento moral se organiza conjuntamente com um movimento político de controle social. Em termos epistemológicos, trata-se de um conhecimento que se funda por uma atitude de controle e que está centrada na suposta autonomia moral e cognitiva do sujeito. No entanto, ao falar em agir para melhorar sem considerar estruturalmente as iniquidades que compõem as relações, o pensamento bioliberal abdica de uma postura dialógica, contribuindo para a normalização da violência e da escassez. Nesse sentido, nossos projetos de futuro, sonhos, vida e sociedade devem ser necessariamente politizados, atendo-se às iniquidades estruturais (racismo, sexismo, especismo, classismo) e à libertação social, pois todo melhoramento que não for pensado a partir desses condicionantes será um aprofundamento do nosso enredo colonial. Espera-se que as reflexões aqui cotejadas tenham o potencial de ofertar perspectivas críticas e posicionadas para os diferentes campos científicos.
Referências Bibliográficas
1. Illich, I. Expropriação da Saúde. Nêmesis da Medicina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 1975.
2. Earp BD, Wudarczyk OA, Sandberg A, Savulescu J. If I could just stop loving you: anti-love biotechnology and the ethics of a chemical breakup. American Journal of Bioethics, 2013.
3.Persson I, Savulescu J. The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative to enhance the moral character of humanity. J Appl Philos, 2008 ; 25(3): 162-177.
4.Persson I, Savulescu J. Unfit for the future: the need for moral enhancement. Oxford University Press, Oxford. 2012.
5. Vilaça, M. Contra A Perfeição, O Melhoramento Humano Ou Pela Dádiva? Uma Análise Dos Argumentos De Michael Sandel Sobre A Engenharia Genética. SRF. 6 de dezembro de 2021;48(152):779.
6. Nascimento, WF. Por uma vida descolonizada: diálogos entre a bioética de intervenção e os estudos sobre a colonialidade. 2010. Tese (Doutorado em Bioética) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
7. Oliveira, F. Feminismo, luta anti-racista e bioética. cadernos pagu. (5) 1995: pp. 73-107.
8. Oliveira, F. Para onde caminha a humanidade sob os signos das bios (tecnologia e ética)? IN Saúde em debate, nº 45/dezembro 1994, pp. 32 a 37.
9. Holanda, MAF. Por uma e?tica da (In)Dignac?a?o: repensando o Humano, a Dignidade e o pluralismo nos movimentos de lutas por direitos. 2015. Tese (Doutorado em Bioética) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
10. Griner, A. Entre sinapses e hormônios: medicalização do amor, subjetividades e a bioética dos afetos e das intimidades. 2019. 224 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas e Saúde; Epidemiologia; Política, Planejamento e Administração em Saúde; Administra) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
11.Feitosa SF, Nascimento WF. A bioética de intervenção no contexto do pensamento latino-americano contemporâneo. Rev Bioét [Internet] 2015; May;23(2): 277–84. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983-80422015232066
12. Nascimento, WF, Garrafa, V. Por uma vida não colonizada: diálogo entre bioética de intervenção e colonialidade. Saúde soc [Internet] 2011 ; 20(2):287–99. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-12902011000200003
13.Mignolo, WD. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistémica. In B. de S. Santos Ed., Conhecimento prudente para uma vida decente (pp. 631671). Porto: Afrontamento, 2003.
14. Bello-Urrego, A, Garrafa, V. Crítica à instituição médica moderno-industrial a partir do microssistema linguístico de Ivan Illich. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 2018; 42(116):261-271.
15. Tabet LP, Martins V, Romano A, Monsores N, GarrafaV. Ivan Illich: da expropriação à desmedicalização da saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 2017; 41(115): 1191-1202.
16. Foucault, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003.
17. Mbembe, A. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona. 2014
18. Illich, I. Entrevista legendada com o pedagogo anarquista Ivan Illich, Canal Obladi Oblada, 2016. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=feHCNEdLSDE
19. Quijano, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In:. Lander, E (comp.). La colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas; Buenos Aires: Clacso, 2005.
20. Dias, MC, Vilaça, M. Transumanismo e o futuro (pós-)humano. Physis: Revista De Saúde Coletiva, 24 Physis, 2014.
21. Buchanan, A. Beyond humanity? The Ethics of Biomedical Enhancement. Oxford University Press, 2011.
22. Garrafa, V. Da bioética de princípios a uma bioética interventiva. Revista Bioética, vol. 13, núm. 1, pp. 125-134 Conselho Federal de Medicina Brasília, Brasil. 2005.
23. Garrafa V, Lorenzo C. Moral imperialism and multi-centric clinical trials in peripheral countries. Cad Saúde Pública [Internet] 2008; 24(10):2219–26.
24. Cavalcante, Lívia Teixeira Canuto e Oliveira, Adélia Augusta Souto de. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. Psicol. rev. (Belo Horizonte) [online]. 2020, vol.26, n.1, pp.83-102.
25. Rother, E. T.. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta Paulista de Enfermagem, v. 20, n. 2, p. v–vi, abr. 2007.