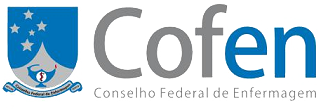0114/2025 - Cuidado e Normas de Gênero: apagamento e não-reconhecimento de parentalidades LGBTI+ nas políticas públicas
Care and Gender Norms: Erasure and Non-Recognition of LGBTI+ Parenthoods in Public Policies
Autor:
• Stephany Yolanda Ril - Ril, SY - <stephanyril.ss@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1417-2244
Coautor(es):
• João Batista de Oliveira Junior - de Oliveira Junior, JB - <jj.educauel@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4232-8165
• Rodrigo Otávio Moretti Pires - Pires, ROM - <rodrigo.moretti@ufsc.br>
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6372-0000
Resumo:
Este artigo investiga as experiências das parentalidades LGBTI+ e como as normas de gênero hegemônicas moldam as noções de cuidado na sociedade, resultando no apagamento dessas configurações familiares nas políticas públicas brasileiras, especialmente nos serviços de saúde. A partir de uma abordagem qualitativa exploratória, foram realizados sete Grupos Focais Online (GFO) com 35 pessoas LGBTI+ e 14 profissionais de saúde, entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024. A análise temática revelou duas dimensões principais: “O cuidado como função feminina e suas consequências” e “Barreiras e apagamentos das parentalidades LGBTI+: a experiência de não-reconhecimento”. A fundamentação teórica apoia-se nos estudos de gênero e feministas, com ênfase na justiça social, redistribuição econômica e reconhecimento cultural de identidades subalternizadas. Os resultados apontam para a invisibilização das parentalidades LGBTI+, refletida na experiência comum de não-reconhecimento social dessas realidades, gerando desigualdades no acesso a direitos, como a licença parental e o atendimento equitativo nos serviços de saúde, afetando não apenas pais e mães, mas também crianças e adolescentes.Palavras-chave:
Minorias Sexuais e de Gênero; Normas de gênero; Parentalidade; Políticas Públicas; Políticas de Saúde.Abstract:
This article investigates the experiences of LGBTI+ parenthood and how hegemonic gender norms shape the notions of caregiving in society, resulting in the erasure of these family configurationsBrazilian public policies, particularly in healthcare services. Through a qualitative exploratory approach, seven Online Focus Groups (OFG) were conducted with 35 LGBTI+ individuals and 14 healthcare professionals between November 2023 and February 2024. The thematic analysis revealed two main dimensions: “Care as a feminine function and its consequences” and “Barriers and erasure of LGBTI+ parenthood: the experience of non-recognition.” The theoretical framework is grounded in gender and feminist studies, with an emphasis on social justice, economic redistribution, and cultural recognition of marginalized identities. The results highlight the invisibility of LGBTI+ parenthood, reflected in the common experience of social non-recognition, leading to inequalities in access to rights, such as parental leave and equitable healthcare services, impacting not only parents but also children and adolescents.Keywords:
Sexual and Gender Minorities; Gender Norms; Parenthood; Public Policies; Health Policies.Conteúdo:
As normas de gênero hegemônicas desempenham uma função central na reprodução social, estabelecendo expectativas e normativas sobre o que significa ser mãe, pai ou pessoa cuidadora. Essas normas estruturam a vida social, orientando comportamentos, políticas públicas e representações sociais. Historicamente associados ao feminino, o cuidado e a parentalidade são frequentemente vistos como funções naturais e intrínsecas às mulheres cisgênero, o que reforça uma divisão sexual do trabalho que subordina outras formas de exercício da parentalidade e invisibiliza diferentes arranjos familiares1.
Essa visão limitada impacta não apenas as mulheres, mas também homens e pessoas LGBTI+ – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans, Travestis, Intersexo e demais identidades –, cujas parentalidades são frequentemente invisibilizadas ou deslegitimadas. Esse apagamento não ocorre isoladamente, mas integra um contexto mais amplo de normatização da sexualidade e das relações de cuidado, reforçando desigualdades estruturais. No âmbito das políticas públicas, reflete uma cisheteronormatividade estrutural que molda tanto as intervenções institucionais quanto o imaginário social.
Segundo Louro², uma compreensão ampla de gênero deve considerar que as identidades de homem e mulher são construídas ao longo do tempo, por meio de práticas sociais que moldam masculinidades e feminilidades conforme cada sociedade. Além disso, o gênero não é apenas uma identidade aprendida, mas uma estrutura social que organiza instituições, práticas e subjetividades. Justiça, escola e igreja reproduzem e expressam relações sociais de gênero, evidenciando que a naturalização dessas normas não é apenas cultural, mas um mecanismo de manutenção das desigualdades.
Gutierrez e Minayo³ destacam que a indiferença dos serviços de saúde ao papel da família reflete a colonização do campo da saúde pelo saber médico. Sob influência do positivismo, a saúde foi reduzida à ausência de doença, e os cuidados, a procedimentos biomédicos dissociados do contexto vivido. Assim, a família é naturalizada como um “dado” autoevidente, vista apenas como espaço de afeto, sem reconhecimento dos cuidados como práticas técnicas, subordinando seu papel à intervenção médica institucional.
As autoras³ defendem a necessidade de “descolonizar” essa compreensão, reconhecendo como a família oferece cuidados essenciais, muitas vezes complementando ou superando os serviços formais. É fundamental romper essa visão limitada e ampliar a percepção para abarcar e respeitar todas as formas de parentalidade. Isso implica compreender que a reprodução das normas de gênero e da cisheteronormatividade ocorre tanto na dimensão simbólica, por meio da cultura e das mentalidades, quanto na dimensão material, influenciando diretamente o acesso a políticas públicas e direitos sociais.
Aprofundando as reflexões de Louro², percebe-se que as instituições sociais não apenas reproduzem, mas também produzem concepções sobre quem deve exercer os cuidados. Assim, o cuidado deve libertar-se de perspectivas colonizadoras, garantindo inclusão e respeito a todas as configurações familiares nas políticas públicas e serviços de saúde.
Este artigo, fruto de uma pesquisa de doutorado em Saúde Coletiva, investiga como as normas de gênero hegemônicas moldam o cuidado e apagam as parentalidades LGBTI+ nas políticas públicas brasileiras, especialmente na saúde. Baseado em estudos feministas e de gênero, desconstrói essas normativas e analisa seus impactos nas famílias LGBTI+. Diferente de estudos anteriores, que tratam heteronormatividade e binarismo de gênero de forma ampla, foca no não reconhecimento social e institucional de pais e mães LGBTI+ no acesso a direitos fundamentais. A análise evidencia como esses sistemas reforçam exclusões e propõe um olhar ampliado sobre famílias e práticas de cuidado, promovendo maior inclusão e equidade.
Métodos
Este estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória para investigar questões sociais e culturais que impactam as pessoas participantes?. A coleta de dados priorizou a escuta ativa e as narrativas, dando visibilidade às trajetórias de vida. Participaram dois grupos: a) pessoas LGBTI+ com mais de 18 anos que assumem a parentalidade e b) profissionais de saúde de diferentes áreas.
A seleção ocorreu via redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp), convites públicos e e-mails institucionais enviados a ONGs e Programas de Pós-Graduação. Também foi utilizada a técnica “bola de neve”, em que informantes-chave indicam novas pessoas?. Interessados foram contatados por e-mail ou WhatsApp e receberam informações sobre o estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para um perfil mais detalhado, responderam um questionário com dados sobre gênero, sexualidade, raça, escolaridade e renda.
A amostra foi definida pelo critério de saturação teórica, interrompendo novas inclusões quando as informações se tornaram repetitivas?. A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, por meio de Grupos Focais Online (GFO), via Google Meet. Utilizou-se um roteiro previamente validado, incluindo um GFO piloto. Os roteiros foram estruturados de maneira a capturar as percepções e vivências das pessoas participantes em relação às barreiras, desafios e possíveis formas de reconhecimento de suas parentalidades no acesso a direitos e serviços públicos. No caso das pessoas LGBTI+, o foco principal foi compreender suas experiências na saúde, educação, assistência social e trabalho, explorando tanto dificuldades quanto estratégias de enfrentamento diante das normas de gênero e da cisheteronormatividade. Já para os profissionais de saúde, os roteiros buscaram mapear percepções sobre o atendimento a essa população, identificando lacunas na formação, na capacitação contínua e na estrutura dos serviços. A técnica favoreceu discussões coletivas moderadas, capturando múltiplas perspectivas?.
Foram realizados sete GFO, com duração média de duas horas cada: cinco com pessoas LGBTI+ e dois com profissionais de saúde. No total, participaram 35 pessoas do grupo a) e 14 do grupo b). Todas as sessões foram gravadas e transcritas para análise detalhada.
A análise seguiu a técnica de análise temática de Braun e Clarke?, identificando padrões recorrentes em três etapas: pré-análise, exploração dos dados e interpretação dos resultados. O estudo seguiu a Resolução Nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEPSH/UFSC) sob Parecer Nº 0.000.000. Todas as pessoas participantes assinaram o TCLE antes de preencherem o Formulário de Marcadores Sociais e participarem dos GFO. Para preservar o anonimato, foram usados nomes fictícios nos relatos.
Resultados e discussão
Participaram do estudo 35 pessoas LGBTI+ e 14 profissionais de saúde, cujos dados sociodemográficos estão detalhados nas Tabelas 1 e 2. Entre as pessoas LGBTI+, a maioria se identifica como mulher cisgênero (45,7%), seguida por homem cisgênero (37,1%). A orientação sexual predominante foi gay (34,3%), seguida por lésbica (28,6%) e bissexual (25,7%). A faixa etária mais representada foi de 34 a 43 anos (54,3%), e a maioria se autodeclara branca (57,1%). Em escolaridade, 37,1% possuem pós-graduação e 28,6% mestrado ou doutorado, com renda familiar mensal entre 3 e 5 salários mínimos (51,4%).
No grupo de profissionais de saúde, 71,4% se identificam como mulher cisgênero, e a maioria também se autodeclara branca (71,4%). A orientação sexual predominante foi heterossexual (42,9%), e a faixa etária mais comum, de 27 a 33 anos (57,1%). Em escolaridade, 57,1% possuem mestrado ou doutorado, e a renda familiar mensal concentra-se entre 3 e 5 salários mínimos (50%).
Tabela 1. Informações Sociodemográficas Pessoas LGBTI+
Tabela 2. Informações Sociodemográficas Profissionais de Saúde
A análise dos resultados revelou duas dimensões principais: “O cuidado como função feminina e suas consequências” e “Barreiras e apagamentos das parentalidades LGBTI+: a experiência de não-reconhecimento”. Embora os exemplos concretos compartilhados nos grupos focais se concentrem predominantemente no contexto das políticas de saúde, devido ao foco da pesquisa de doutorado, outras instituições sociais também foram mencionadas como atores importantes na produção de normas de cuidado associadas ao gênero.
O cuidado como função feminina e suas consequências
Os resultados indicam que o cuidado continua a ser fortemente associado ao gênero feminino, tanto nas esferas sociais quanto institucionais. Essa associação não é apenas um reflexo de valores culturais, mas uma estrutura social profundamente enraizada, que orienta práticas institucionais e reforça hierarquias de gênero. A feminização do cuidado, historicamente naturalizada, define quem deve exercê-lo e como deve ser realizado. Os relatos dos GFO mostram que essa feminização não só restringe a participação masculina, mas também perpetua um modelo excludente e limitante, especialmente para as parentalidades LGBTI+, cujas experiências são frequentemente deslegitimadas ou interpretadas como desviantes.
Nos depoimentos, fica evidente que os serviços de saúde frequentemente reproduzem a cisheteronormatividade – um conjunto de normas políticas e sociais que impõe padrões cisgêneros8 e heterossexuais9 a todas as pessoas –, assumindo que o papel de cuidador principal cabe exclusivamente às mulheres cisgênero. Essa normatividade se insere no que Bento10 denomina como “heteroterrorismo”, um sistema que controla corpos e subjetividades ao definir quais formas de cuidado e parentalidade são legítimas. Assim, a cisnormatividade e a heteronormatividade operam conjuntamente, marginalizando as parentalidades dissidentes e reforçando um modelo de família nuclear essencialista e patriarcal10,11. Essa regulação não apenas opera no nível das interações interpessoais, mas também estrutura protocolos institucionais, regulamentos e formas de atendimento. Dessa maneira, reforça-se uma visão de normatividade cultural e institucional, que reforça estereótipos de gênero, dificultando o reconhecimento e a aceitação de arranjos familiares diversos, além de invisibilizar as múltiplas formas de cuidado presentes nas parentalidades LGBTI+. Um dos participantes, um homem cisgênero gay e pai, compartilhou uma situação em que estava viajando com sua filha e, ao buscar atendimento de emergência, enfrentou questionamentos que atrasaram o socorro:
“Eu estava em uma emergência com a minha filha, e a atendente perguntou: ‘Cadê a mãe?’ Eu disse que ela não estava, que eu era o responsável, mas ela insistiu, como se eu não pudesse cuidar. Tive que explicar várias vezes até que me deixassem seguir com o atendimento e prestassem socorro à minha filha”.
Esse tipo de experiência é emblemático da imposição de uma ordem social que não apenas desconsidera as parentalidades masculinas, mas também hierarquiza formas de cuidado, atribuindo maior legitimidade às desempenhadas por mulheres cisgênero. Ao mesmo tempo em que essa lógica sobrecarrega as mulheres com a responsabilidade exclusiva pelo cuidado, limita a participação de homens e exclui as parentalidades LGBTI+. Essa feminização também exclui parentalidades LGBTI+, como evidenciado nos GFO. Fraser¹³ descreve essa dinâmica como uma injustiça de reconhecimento, na qual certos grupos são desvalorizados e negados como sujeitos plenos de direitos. No caso das parentalidades LGBTI+, essa desvalorização impacta diretamente o acesso a saúde, educação e outros âmbitos de cuidado.
Connell e Messerschmidt¹? ampliam essa discussão com o conceito de masculinidade hegemônica, que molda e exclui outras expressões de gênero. Essa masculinidade se sustenta pela subordinação de mulheres e de homens que não se encaixam nesses ideais, afetando parentalidades masculinas não convencionais, homens trans e pessoas transmasculinas.
Vergueiro12 argumenta que a cisnormatividade está contida no conceito de heteronormatividade descrito por Butler, o que reforça padrões de gênero rígidos que excluem masculinidades dissidentes. Dessa forma, as normas de gênero estruturam a vida social e moldam as experiências cotidianas de parentalidades fora do padrão cis-heteronormativo. Essa exclusão não se dá apenas na esfera social, mas é reforçada institucionalmente por meio de normas e práticas que dificultam o reconhecimento de certas parentalidades, as experiências de cuidado de homens GBTI+ e pessoas transmasculinas reflete o poder estrutural dessa hegemonia, que associa masculinidade à distância das práticas de cuidado. No Brasil, estudos como os de Dantas et al.15, Mesquita e Nascimento16 e Pereira17 evidenciam o quanto as parentalidades de masculinidades subalternizadas enfrentam barreiras para serem reconhecidas. Pesquisas internacionais, como as de Grigoropoulos18, Fantus e Newman19, Tsfati et al.20 e Worthen e Herbolsheimer21 também apontam essa problemática em outros contextos.
Pateman²², ao discutir a dicotomia público-privado, mostra como o cuidado, associado às mulheres, é restrito ao espaço doméstico, enquanto o liberalismo ignora sua importância para a igualdade social. A feminização do cuidado, ao ser confinada ao lar, nega a homens GBTI+ e pessoas transmasculinas o reconhecimento como cuidadores legítimos. Isso evidencia o caráter patriarcal da organização social, que mantém mulheres no cuidado e homens cisheteronormativos no espaço público. Isso se mostra como um mecanismo que organiza relações de poder e sustenta desigualdades estruturais.
Nos GFO, destacou-se a prática escolar de direcionar bilhetes apenas às mães, refletindo a predominância de famílias chefiadas por mulheres. Questionou-se, porém, se isso também decorre do papel historicamente atribuído à paternidade. Houve consenso de que a sociedade permitiu o afastamento dos homens do cuidado, reforçando essa ausência. Assim, práticas que vinculam o cuidado infantil exclusivamente às mulheres – na escola, saúde e outros serviços – perpetuam a divisão de gênero.
A naturalização do feminino como cuidador principal, como discutido, não é apenas uma questão de preconceito cultural, mas parte de uma estrutura societária que regula o trabalho de reprodução social e influencia a distribuição de direitos e recursos1. Lugones23, ao discutir a colonialidade do gênero, enfatiza como esse processo de imposição normativa afeta de maneira diferenciada as experiências de mulheres racializadas e pessoas trans, reforçando a exclusão por meio de práticas institucionais que perpetuam hierarquias coloniais. Um exemplo desse processo, vivenciado por um pai não binário gay, é a ausência de fraldários em banheiros masculinos:
“Quando cheguei na clínica, informei que precisava trocar a fralda do meu filho, mas só havia trocador no banheiro feminino. Perguntei se podia usar o banheiro feminino, já que sou o pai, e a resposta foi que eu deveria entregar o bebê para uma das funcionárias para que ela trocasse a fralda. Isso é inaceitável. Eu sou o pai, eu cuido”.
Essa situação ilustra como as barreiras materiais e arquitetônicas reforçam normas de gênero e limitam a participação de certas parentalidades. Nos GFO, profissionais de saúde também problematizaram as barreiras arquitetônicas, apontando que os ambientes destinados à saúde gravídica e puerperal são fortemente marcados por estereótipos de gênero, frequentemente decorados em cores como o rosa. Isso reforça a associação com o ideal de feminino hegemônico e exclui pessoas trans e não binárias que possam utilizar esses serviços. Essa realidade reforça o argumento de Tannuri e Silva24 de que a intolerância sexual e de gênero está profundamente enraizada na cultura e nas idealizações sobre parentalidade, sendo um mecanismo de exclusão social para relações não heteronormativas.
Fraser¹³ explica que essa injustiça reflete a falta de redistribuição equitativa dos recursos sociais, impedindo pais homens – especialmente GBTI+ e transmasculinos – de exercerem plenamente sua parentalidade. Pateman²² critica essa exclusão patriarcal, ressaltando que o liberalismo ignora desigualdades do espaço privado na justiça social.
A feminização do cuidado não só restringe a participação masculina, mas também perpetua desigualdades de gênero e sexualidade nas instituições públicas. Fraser¹³ defende que superar essas barreiras exige reformular normas sociais, reconhecendo todas as parentalidades como legítimas. Essa feminização é ainda mais evidente entre homens trans e pessoas transmasculinas gestantes. Um profissional de um Ambulatório Trans relatou ter conduzido o pré-natal de um usuário transmasculino devido à transfobia sofrida em uma UBS. Ao buscar o atendimento de pré-natal na UBS, um representante da instituição afirmou: “Você não pode estar gestando, porque você é masculino.”
Essa dinâmica de exclusão, presente tanto nas expectativas sociais quanto nas práticas institucionais, reforça um modelo binário e rígido de gênero que impossibilita o reconhecimento das parentalidades dissidentes, resultando no que Fraser25 denomina “mal-reconhecimento”. As instituições de saúde, ao adotarem um modelo rígido de gênero, desconsideram a legitimidade de pais trans na gestação, criando barreiras que dificultam o acesso ao cuidado e tornam o processo, muitas vezes, traumático. Essa exclusão é agravada pela falta de preparo de profissionais de saúde, que não recebem formação adequada para atender as parentalidades LGBTI+.
Connell e Messerschmidt¹? destacam que as masculinidades hegemônicas não apenas excluem masculinidades não normativas, mas também reforçam padrões rígidos de gênero, afetando homens trans, pessoas transmasculinas e aqueles que não se encaixam na cisheteronormatividade. A crença de que apenas mulheres cis podem gestar e cuidar reflete essa hegemonia, subordinando outras masculinidades e reforçando a hierarquia de gênero nas instituições. Esse processo sobrecarrega as mulheres com múltiplas demandas e impõe-lhes trabalhos invisíveis sem reconhecimento ou compensação.
Barreiras e apagamentos das parentalidades LGBTI+: a experiência de não-reconhecimento
Os resultados indicam que as parentalidades LGBTI+ enfrentam barreiras sociais, institucionais e legais dentro de um sistema normativo que restringe sua legitimidade e reforça desigualdades estruturais. A estrutura binária e cisheteronormativa dos serviços de saúde impõe obstáculos a pais e mães que não se encaixam no modelo hegemônico de família, funcionando como um mecanismo de exclusão simbólica e material, negando direitos e inviabilizando experiências parentais dissidentes. Conforme Gomes et al.²? apontam, a falta de políticas públicas para parentalidades LGBTI+ evidencia como o sistema de saúde, ao operar sob um viés cisheteronormativo, reforça desigualdades no acesso ao cuidado.
A invisibilização das parentalidades LGBTI+ não é apenas exclusão, mas também violência simbólica²? e institucional, conforme relatado nos grupos focais. Santana, Galdino e Araújo²? destacam que essa exclusão resulta da normatividade que valida apenas famílias monogâmicas e heterossexuais, ignorando outras formas de organização familiar e cuidado parental.
A marginalização dessas parentalidades vai além da saúde. Em diversas políticas públicas, pais GBTI+ enfrentam obstáculos para serem reconhecidos como cuidadores legítimos. As instituições operam sob a presunção da família nuclear cisheterossexual, dificultando as parentalidades fora desse padrão. Um pai, homem cisgênero bissexual, relatou as dificuldades que encontrou para obter informações sobre sua filha na escola:
“Eu precisei lembrar a escola que, de acordo com o Código Civil, tenho direitos iguais como pai, mas a diretora me disse que só forneceria informações à mãe. Eu tive que provar, com documentos e leis, que também tenho o direito de cuidar da minha filha”.
Esse depoimento evidencia como o apagamento das parentalidades LGBTI+ está enraizado nas instituições públicas e privadas, que não apenas reproduzem um modelo excludente, mas impõem barreiras concretas ao acesso a direitos. A predominância do modelo de família nuclear cisheterossexual desconsidera a diversidade dos arranjos familiares. Oliveira, Sousa e Torres²? apontam que as políticas públicas ainda falham em garantir direitos plenos a minorias sexuais e de gênero com funções parentais, perpetuando desigualdades estruturais. A falta de reconhecimento legal e institucional das parentalidades LGBTI+ não decorre apenas de omissões legislativas, mas reflete a desigualdade na distribuição do poder social, que determina quais parentalidades são legitimadas e quais são marginalizadas. Isso gera uma distribuição desigual de direitos e recursos, ampliando as desigualdades enfrentadas por esses grupos.
O não reconhecimento das formações familiares afeta não apenas pais e mães, mas também crianças e adolescentes, dificultando o acesso a direitos básicos, como a documentação civil. Isso compromete o direito prioritário a políticas públicas de proteção e bem-estar, conforme previsto na Constituição Brasileira e no ECA. A invisibilização das parentalidades LGBTI+ produz consequências intergeracionais, perpetuando ciclos de exclusão.
Fraser¹³ defende que justiça social exige redistribuição e reconhecimento, e os resultados deste estudo reforçam essa perspectiva. A falta de reconhecimento das parentalidades LGBTI+ impede a distribuição equitativa de direitos, como a licença parental igualitária. No Brasil, a legislação prevê 120 dias de licença maternidade, enquanto a paternidade é de apenas 5 dias. Esse descompasso normativo reflete não só uma desigualdade histórica, mas também como o reconhecimento das parentalidades influencia o acesso a direitos e recursos.
Em casos de dupla maternidade, apenas uma mãe tem direito aos 120 dias de licença, geralmente a que gestou. Já na dupla paternidade, apenas um pai recebe a licença integral, enquanto o outro se limita à licença-paternidade. Além disso, o acesso a serviços de saúde adequados segue restrito. As barreiras enfrentadas por pais fora da norma cisheterossexual evidenciam a relação entre justiça distributiva e reconhecimento social e político.
Além disso, a cisheteronormatividade afeta desproporcionalmente mães não gestantes em casais lésbicos e bissexuais³?. Um dos relatos expõe a violência institucional enfrentada por essas mães, que são frequentemente questionadas quanto à sua legitimidade parental:
“Como se só pudesse haver uma mãe. Isso me machucou profundamente, porque nós duas somos mães, mas parece que as pessoas só conseguem aceitar uma”.
Essa experiência reforça a exclusão simbólica vivida pelas mães não gestantes, demonstrando que a parentalidade ainda é lida a partir de um viés biológico e cisheteronormativo, que nega a legitimidade de diferentes formas de cuidado que são constantemente invalidadas pelas normas sociais e institucionais, as quais associam o cuidado e a parentalidade ao ato biológico de gestar. Essa exclusão reflete o que Fraser¹³ chama de falha de reconhecimento, evidenciando a incapacidade das estruturas sociais de acolher a diversidade das configurações familiares. Connell e Messerschmidt¹? complementam que essa estrutura reforça a masculinidade hegemônica, invalidando modelos parentais que fogem às normas de gênero e marginalizando quem desafia essas expectativas.
Uma pessoa transmasculina compartilhou sua experiência de exclusão durante a gestação e o puerpério. Embora já tivesse passado por uma mastectomia, enfrentou o desconforto de ocultar sua identidade trans durante o atendimento de pré-natal: “Eu não me senti seguro para me assumir como uma pessoa trans durante a gestação. Eu só falava que não tinha seios, que não podia amamentar, e não explicava mais nada”. O participante também ressaltou a pressão social em torno da amamentação e como as normas cisheteronormativas moldam as vivências gestacionais e pós-gestacionais. Mesmo sendo a pessoa que gestou, esperava-se que assumisse o papel de “pai” após o parto, enquanto sua parceira era vista como a “mãe”, refletindo as normas hegemônicas de gênero:
“Parece que, quando eu era gestante, eu era a mãe e minha companheira era o pai. Depois que pari, virei o pai e ela virou a mãe, com todos os estigmas e preconceitos que essas palavras carregam”.
Esse depoimento evidencia as expectativas de gênero impostas às parentalidades transmasculinas, especialmente em relação à amamentação e à divisão de papéis familiares. Bento¹? e Vergueiro¹² analisam como a cisnormatividade reforça barreiras institucionais e padrões binários que desconsideram parentalidades trans, travestis e não binárias.
Os resultados indicam que o cuidado é associado ao feminino apenas quando há um par masculino dentro dos moldes hegemônicos. O reconhecimento da parentalidade trans e travesti ainda é mediado por normas binárias, que tentam enquadrar experiências dissidentes nos padrões normativos de gênero. Parentalidades LGBTI+ que fogem às normas biológicas e cisheteronormativas são frequentemente vistas como secundárias e menos legítimas. Como mencionado, isso resulta em violência simbólica²?, que deslegitima experiências de cuidado fora dos padrões cisheteronormativos e binários.
Butler³¹ critica como normas de gênero e sexualidade moldam o reconhecimento, defendendo que este não deve apenas aceitar identidades preexistentes, mas questionar as regras que definem quem é reconhecível ou excluído. Essa análise é crucial para entender a invisibilização das parentalidades LGBTI+, frequentemente fora das categorias normativas de cuidado.
A autora³²,³³ também destaca que vidas que não se alinham às normas sociais dominantes são desvalorizadas, vistas como precárias e indignas de proteção. No contexto das parentalidades LGBTI+, essa falta de reconhecimento resulta na negação de direitos e na contestação de sua legitimidade como cuidadores.
Dialogando com Louro², percebe-se que essa exclusão se relaciona com a essencialização das categorias de gênero, ignorando variações internas. As políticas públicas, ao universalizarem homens (pais) e mulheres (mães) dentro de um padrão cisheterossexual, desconsideram a diversidade da parentalidade. Isso reforça a exclusão de homens trans, pessoas transmasculinas, homens cis gays, bissexuais, pansexuais e mulheres não cisheterossexuais.
Essa exclusão é evidente em políticas de saúde e direitos parentais, onde o cuidado é associado ao feminino dentro da cisheteronormatividade. Esse viés institucional e social marginaliza outras configurações parentais. Para enfrentar essa desigualdade, é essencial desconstruir normas de gênero e sexualidade, ampliando políticas públicas para reconhecer e incluir diversas formas de cuidado. Isso fortalece o reconhecimento e a justiça social, promovendo equidade no acesso a direitos parentais.
Os depoimentos dos grupos focais destacaram a necessidade frequente de processos judiciais para o reconhecimento das conformações familiares LGBTI+, especialmente em casos de maternidade de mães não gestantes, de paternidade de homens trans e pessoas transmasculinas não gestantes e na definição da guarda para pais gays e bissexuais que tiveram filhos em relacionamentos heterossexuais. Esses processos muitas vezes envolvem estudos sociais e psicológicos, que são percebidos como uma tentativa do Estado de “proteger” as crianças dessas formações familiares, em vez de oferecer proteção social efetiva tanto para as crianças quanto para suas famílias. Gomes et al.26 problematizam essa lógica ao apontar que, em vez de reconhecer a pluralidade dos arranjos parentais, o sistema jurídico frequentemente reforça um viés cisheteronormativo, tratando parentalidades LGBTI+ como exceções que precisam ser justificadas e avaliadas, em um processo contínuo de validação. Essa sensação de vigilância e controle reforça a marginalização das parentalidades LGBTI+ e a dificuldade de reconhecimento pleno de suas experiências.
McQueen³? analisa a tensão entre identidades consideradas “naturais” e aquelas vistas como desviantes ou ilegítimas. Ele mostra como a heterossexualidade é entendida como “correta”, marginalizando tanto orientações não heterossexuais quanto identidades de gênero trans e travestis.
Para McQueen³?, viver uma vida habitável exige segurança, mesmo diante da instabilidade do ser. Ele propõe que, em vez de encaixar identidades em moldes normativos, é preciso negociá-las continuamente, reconhecendo sua temporalidade e contingência. Isso é essencial para identidades fora da norma cisheterossexual, que dependem do reconhecimento para existir plenamente na sociedade.
No debate pós-identitário, McQueen³? questiona se a política de reconhecimento pode reforçar desigualdades ao consolidar normas identitárias. No entanto, romper completamente com essas normas não é simples, pois, para muitos, uma identidade estável é vital para sua sobrevivência. Citando Butler, ele destaca que, embora o reconhecimento esteja ligado ao poder, é essencial para grupos deslegitimados, como as parentalidades LGBTI+.
A crítica de McQueen³? ³? e os relatos dos GFO evidenciam a necessidade de questionar normas de reconhecimento no sistema judicial e nas políticas públicas, que frequentemente impõem barreiras à parentalidade LGBTI+. Um estudo anterior, com base na teoria do reconhecimento, demonstrou como a cisheteronormatividade regula tanto o esporte quanto outras esferas da vida pública³?.
Os resultados deste estudo indicam que as experiências de exclusão e violência vividas pelas parentalidades LGBTI+ variam significativamente em função de marcadores interseccionais, como raça e classe. Um dos participantes dos grupos focais relatou:
“Além de ser um pai gay, eu também sou uma pessoa negra. Isso só aumenta a desconfiança sobre minha capacidade de cuidar do meu filho. As pessoas esperam que a mãe esteja lá para fazer tudo, e quando sou eu, me olham como se eu não fosse capaz”.
Essa fala evidencia como a interseccionalidade entre raça, gênero e orientação sexual complexifica as barreiras enfrentadas por essas parentalidades. Autoras como Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge37 defendem que o reconhecimento e a redistribuição justa das parentalidades LGBTI+ não podem ser efetivos sem uma abordagem que considere múltiplos eixos de opressão simultâneos.
Os achados do estudo reforçam a necessidade de integrar uma perspectiva interseccional nas políticas públicas, reconhecendo que as desigualdades enfrentadas pelas parentalidades LGBTI+ são atravessadas por outros marcadores sociais, como classe, raça e identidade de gênero. Como destacam Connell e Messerschmidt14 e Pateman22, a hegemonia masculina e a divisão entre o público e o privado operam de formas diversas para subjugar qualquer parentalidade que não se encaixe no modelo cisheteronormativo. Assim, para garantir uma redistribuição equitativa de recursos e um reconhecimento pleno dessas parentalidades, é essencial que as políticas públicas sejam formuladas com uma abordagem equânime e interseccional de justiça social.
A marginalização das parentalidades LGBTI+ não é apenas uma questão de omissão, mas um pilar da estrutura cisheteronormativa que regula a família, a política e o acesso a direitos. Assim, desafiar essa estrutura requer não apenas mudanças legislativas, mas uma transformação profunda das normas sociais e institucionais que determinam quais parentalidades são dignas de reconhecimento e proteção.
Considerações finais
A pesquisa incluiu uma amostra diversa dentro do “guarda-chuva” LGBTI+, composta por uma mulher trans, uma pessoa não binária, homens trans, uma pessoa transmasculina, mulheres e homens cisgêneros, com diferentes orientações sexuais (lésbicas, gays, bissexuais e pansexuais) e variadas origens étnico-raciais (brancas, pardas, pretas, amarela e cigana). Todas compartilharam uma experiência em comum: o não reconhecimento de suas formações familiares. Essa exclusão atravessa esferas institucionais, sendo marcante nas políticas públicas de saúde e nos processos burocráticos para obtenção de direitos, como licença parental e documentação legal para filhos e filhas.
Entre os limites da pesquisa, destaca-se a participação reduzida de grupos como mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, queer e gênero fluido, o que pode ter restringido a análise dessas experiências. O uso dos GFO permitiu reflexões coletivas em diversas regiões do Brasil, mas pode ter excluído pessoas com acesso limitado a tecnologias, reduzindo a representatividade em termos de classe social.
Outro limite diz respeito ao recorte temporal, pois as discussões se concentraram em um período específico, sem contemplar possíveis mudanças legislativas e sociais posteriores. Além disso, o foco na saúde, embora essencial, limitou a análise de outras instituições, como o sistema educacional e as políticas de assistência social, abordadas apenas secundariamente.
Apesar desses limites, os achados revelam que as parentalidades LGBTI+ seguem marginalizadas e forçadas a se adequar a padrões cisheteronormativos que não refletem sua realidade. As barreiras vão além da exclusão simbólica, estendendo-se ao não reconhecimento legal e social, agravando desigualdades no acesso a direitos e serviços. Essa violência institucional afeta não apenas pais e mães, mas também crianças e adolescentes dessas famílias.
Diante desses resultados, é urgente a formulação de políticas públicas que considerem a diversidade das configurações familiares e questionem normas de gênero que restringem o cuidado ao feminino e ao espaço privado. A ampliação dos direitos parentais, como licença parental igualitária e capacitação de profissionais de saúde, justiça e educação, são passos essenciais para combater a invisibilidade dessas famílias e garantir uma redistribuição justa de direitos e recursos.
A pesquisa também destaca a importância de uma abordagem interseccional nas políticas voltadas às parentalidades LGBTI+, considerando interseções de raça, classe, identidade de gênero e orientação sexual. Futuros estudos e ações políticas devem aprofundar essa análise, garantindo que reconhecimento e redistribuição contemplem as especificidades de cada grupo.
Por fim, este trabalho reforça a necessidade de reformular políticas de cuidado e reconhecer as parentalidades LGBTI+ no campo da saúde coletiva, garantindo direitos e validando essas famílias, independentemente das normas sociais dominantes.
Agradecimentos
Agradecemos ao Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo financiamento desta pesquisa. Nossa gratidão também ao Departamento de Saúde Pública e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pelo suporte essencial à realização deste estudo.
Referências
1. Fraser N. Contradições entre capital e cuidado. Princípios: Rev Filos 2020; 27(53):261-88.
2. Louro GL. Gênero, história e educação: construção e desconstrução. Educ Real 1995; 20(2):101-32.
3. Gutierrez DMD, Minayo MCS. Produção de conhecimento sobre cuidados da saúde no âmbito da família. Cien Saude Colet 2010; 15(supl.1):1497-1508.
4. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12 ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2010.
5. Vinuto J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. Rev Temáticas 2014; 22(44):203-20.
6. Fontanella BJB, Ricas J, Turato ER. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad Saude Publica 2008; 24(1):17-27.
7. Braun V, Clarke V. Successful qualitative research: a practical guide for beginners. London: Sage; 2013. E-book.
8. Guzmán BR. Colonialidad e cis-normatividade. Entrevista com Viviane Vergueiro. Iberoam Soc Rev-Red Estud Soc 2014; 3:15-21.
9. Warner M. Fear of a queer planet: queer politics and social theory. Cultural Politics. 1994; 6. Minneapolis.
10. Bento B. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense; 2008.
11. Santos MA, Minari AB, Oliveira-Cardoso EA. Casais de mulheres lésbicas e bissexuais que vivenciam a dupla maternidade: (des) encontros na produção do cuidado em saúde. Cien Saude Colet 2024; 29(4):e19732023.
12. Vergueiro V. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade [dissertação de mestrado]. Salvador: Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade Federal da Bahia; 2015. 244 p. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/19685/1/VERGUEIRO%20Viviane%20-%20Por%20inflexoes%20decoloniais%20de%20corpos%20e%20identidades%20de%20genero%20inconformes.pdf. Acesso em: 06 mar. 2025.
13. Fraser N. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-socialista. Cad Campo 2006; (14/15):231-39.
14. Connell R, Messerschmidt JW. Masculinidade hegemônica: repensando o conceito. Rev Estud Fem 2013; 21(1): 241-82.
15. Dantas DS, Almeida GPLL, Ferreira BO, Therense M, Neves ALM. Sentidos e significados de parentalidade entre homens trans que engravidaram antes da transição de gênero. Cien Saude Colet 2024; 29(4):1-10.
16. Mesquita JA, Nascimento MAF. Ativismo digital sobre paternidade gay no Instagram: a homoparentalidade masculina em cena. Cien Saude Colet 2024; 29(4):1-10.
17. Pereira PLN. De barba e barrigão: histórias de gestação e parentalidade de homens trans [tese de doutorado]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz; 2021. 160 p.
18. Grigoropoulos I. Gay Fatherhood Experiences and Challenges Through the Lens of Minority Stress Theory. J Homosex 2022; 70(9):1867–89.
19. Fantus S, Newman PA. The procreative identities of men in same-sex relationships choosing surrogacy: A new theoretical understanding. J Fam Theory Rev 2022; 14(2):254-74.
20. Tsfati M, Nadan Y, Biton N, Serdtse Y. Fatherhood as a Spatial-Contextual Phenomenon: Israeli Gay Fathers through Surrogacy. Men Masc 2021; 24(4):590-610.
21. Worthen MGF, Herbolsheimer C. “Mom and dad?=?cis woman?+?cis man” and the stigmatization of trans parents: an empirical test of norm-centered stigma theory. Int J of Transgend Health 2022; 24(4):397–416.
22. Pateman C. Críticas feministas à dicotomia público/privado. In: Biroli F, Miguel LF, eds. Teoria Política Feminista: Textos centrais. Vinhedo: Editora Horizonte; 2013.
23. Lugones M. Rumo a um feminismo decolonial. Rev Estud Fem 2014; 22(3):936-951.
24. Tannuri JGC, Silva M. Família homoparental: enfrentando a vitalidade do patriarcado. Rev Linhas 2019; 20(43):256-271.
25. Fraser N. Justiça Anormal. R Fac Dir Univ São Paulo 2013; 108:739-68.
26. Gomes R, Machin R, Nascimento MAF, Couto MT. Problematizando as relações entre homoparentalidade e saúde. Cien Saude Colet 2024; 29:e18412023.
27. Bourdieu P. Meditações pascalianas. Miceli S, tradutor. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2001.
28. Santana ADS, Galdino AS, Araújo EC. A superação à família monogâmica é pela coletividade! Parentalidades não-monogâmicas de pessoas sexo-gênero-diversas. Cien Saude Colet 2024; 29:e19692023.
29. Oliveira CRS, Sousa CCV, Torres JL. Quem são as minorias sexuais e de gênero que convivem frequentemente com filhos (as) e sua associação a cuidados em saúde. Cien Saude Colet 2024; 29(4):e19222023.
30. Ril SY, Oliveira Júnior JB, Mello MMC, Portes VM, Moretti-Pires R. “Mãe é só uma!”: violência institucional nas experiências de dupla maternidade na atenção à saúde. Cien Saude Colet 2024; 29(4):1-10.
31. Butler J. O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cad Pagu 2003; 21:219-260.
32. Butler J. Vida precária: el poder del duelo y la violencia. 1. ed. Buenos Aires: Paidós; 2006.
33. Butler J. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 2018.
34. McQueen P. Subjectivity, Gender and the Struggle for Recognition. London: Palgrave Macmillan; 2015.
35. McQueen P. Post-identity politics and the social weightlessness of radical gender theory. Thesis Eleven 2016; 134(1):73–88.
36. Oliveira Júnior JB, Moretti-Pires RO. Transexualidade e Práticas Esportivas: uma análise a partir da teoria do reconhecimento. Physis 2024; 34(e34090):1-21.
37. Collins PH, Bilge S. Interseccionalidade. Souza R, tradutora. São Paulo: Boitempo; 2020.