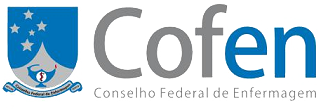0112/2025 - HISTÓRIA DE VIDA E SIGNIFICADOS: O FIM DE VIDA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA
LIFE HISTORY AND MEANINGS: THE END OF LIFE IN AN INTENSIVE AND SEMI-INTENSIVE CARE UNIT
Autor:
• Alison Douglas da Silva - Silva, AD - <alisondouglas.sv@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1771-2333
Coautor(es):
• Juan Carlos Aneiros Fernandez - Fernandez, JCA - <aneirosfernandez@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8598-646X
Resumo:
O presente estudo aborda a experiência do fim de vida de uma paciente em uma Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva, a partir dos relatos de um familiar que acompanhou o seu trajeto terapêutico. O estudo procurou compreender como a equipe assistencial considera a história de vida dos pacientes e como isso influencia as estratégias de cuidado. Além disso, buscou identificar a interação estabelecida entre a equipe assistencial e os familiares dos pacientes, quando estes já estão impossibilitados de se expressar. A imersão em uma Unidade de Terapia Intensiva e Semi-intensiva possibilitou uma abordagem etnográfica em que, além da observação participante, foram realizadas também entrevistas em profundidade e acompanhamento das visitas à beira leito. Os resultados mostram que a história de vida dos pacientes, ainda que narradas por seus familiares, é relevante para o acolhimento e construção do plano de cuidado desses sujeitos, não obstante não foi considerada pela equipe de cuidados do caso que apresentamos neste artigo.Palavras-chave:
Fim de Vida; Tecnologia Leve; Integralidade em Saúde;Abstract:
The present study addresses the end-of-life experience of a patient in an Intensive and Semi-Intensive Care Unit, based on reports from a family member who accompanied her therapeutic journey. The study sought to understand how the healthcare team considers patients' life history and how this influences care strategies. Additionally, it aimed to identify the interaction established between the healthcare team and patients' family members when the patients are no longer able to communicate. Immersion in an Intensive and Semi-Intensive Care Unit enabled an ethnographic approach, where, in addition to participant observation, in-depth interviews and monitoring of bedside visits were also conducted. The results show that the patients' life history, even when narrated by their family members, is relevant for the reception and construction of the care plan for these individuals, despite not being considered by the care team in the case presented in this article.Keywords:
End of Life; Culturally Appropriate Technology, Integrality in Health.Conteúdo:
Introdução
A vivência do fim de vida coloca os sujeitos diante de dilemas elementares da existência humana1,2. Seja em um hospital ou em casa, ao se deparar com o fim de vida, o sujeito se vê impelido a conferir um sentido ao modo como viveu, às decisões que tomou e a maneira como construiu suas relações, fazendo assim um balanço da sua história de vida3,4. Trata-se de um momento importante da experiência humana, que precisa de atenção, para que possa ser vivido com dignidade.
Nesse artigo, apresentamos a experiência de Joana , vivendo seus últimos dias em uma Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva, acompanhada pela sua filha, Elis. Joana está internada em decorrência da piora no quadro de uma doença autoimune que a acometeu no seu último ano de vida.
A história de Joana, nos convida a pensar em um conjunto de questões que permeiam o tema da terminalidade, como: o lugar dos determinantes culturais nos processos terapêuticos5,6,7,8,9 no poder sobre o corpo que a biomedicina exerce em contexto de cuidado intensivo10, no respeito à autonomia de sujeitos que não podem mais se expressar11,12,13, no papel e na interação entre equipe de cuidados e família14,15,16,17, na atenção aos desejos dos indivíduos14,18 dentre outros. Trata-se de uma história que nos permite visitar temas e questões centrais do processo de cuidado. A novidade que apresentamos aqui é a abordagem do caso a partir de uma perspectiva das ciências sociais em saúde, empreendida após a realização da coleta de dados de uma pesquisa etnográfica, com base nos autores e questões apresentados acima.
O resultado é um artigo em que as dimensões socioculturais ganham foco e revelam, nas entrelinhas do cuidado, os empecilhos que os sujeitos enfrentam para garantir sua dignidade em determinados contextos assistenciais.
Métodos
Este artigo é resultado da pesquisa intitulada “O cuidado crítico/intensivo na perspectiva de familiares de indivíduos internados na (...) Unidade de Terapia Intensiva e Semintensiva Retaguarda de um Hospital de Grande Porte” aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em que esse estudo foi realizado sob número CAAE 82731317.8.0000.5404. Trata-se de uma pesquisa qualitativa19,20 de caráter etnográfico21,22,23,24 que utilizou um conjunto de técnicas25, mencionadas a seguir, para chegar aos resultados aqui apresentados. A coleta de dados durou quatro meses (março a junho) e foi realizada de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 14h00. Ao longo desse tempo foram apreciados casos de dezenas de pacientes que estiveram sob cuidados na unidade em questão. Desses, foram selecionados treze casos de sujeitos com prognóstico clínico de fim de vida. Esse acompanhamento incluiu a realização de entrevistas com seus familiares/acompanhantes e diálogo com os médicos residentes responsáveis pelo caso.
Uma das técnicas utilizadas na coleta de dados foi a Observação Participante (OP)26,27. A OP aconteceu em uma unidade de terapia intensiva e semi intensiva de um hospital de grande porte. A OP foi dividida em dois momentos. Das 07h00 às 10h00 era realizado o acompanhamento das visitas à beira-leito da equipe médica, que, reunida, discutiam caso a caso do setor, definindo condutas e repassando eventuais ocorridos do dia anterior. E, após as visitas, das 10h00 às 14h00, seguíamos o acompanhamento das rotinas da UTI, observando as práticas de cuidado e realizando diálogos com os familiares dos sujeitos e com a equipe assistencial.
Uma parte da equipe médica era fixa do setor, dentre esses os médicos coordenadores e um residente no terceiro ano (R3), os demais membros estiveram na UTI de forma revezada em períodos que, no geral, variam de 02 semanas a 01 mês.
Foram realizadas ainda entrevistas em profundidade19,20 com familiares e/ou acompanhantes das pessoas internadas em situação de fim de vida, que consentiram em participar. Em todos os casos, os sujeitos ao qual o cuidado se destinava não apresentavam condições físicas e/ou cognitivas de realizar diálogos longos. Essas entrevistas aconteceram no espaço de convivência do 4ª andar do hospital, que ficava em frente à UTI onde estávamos fazendo a etnografia. Esse espaço é um local amplo, com boa iluminação e ventilação, e que permite a realização de entrevistas respeitando a intimidade dos entrevistados. As entrevistas foram gravadas, após consentimento por escrito dos depoentes, e duraram entre 01h00 e 02h00. Na maioria dos casos, as entrevistas aconteceram em mais de uma ocasião.
Durante as entrevistas, o fio condutor foi a História de Vida (HV)28 da pessoa que o depoente estava acompanhando. Apesar do esforço em focar na história de vida, era perceptível certo anseio em relatar o processo de adoecimento que levou a pessoa até a internação. Optamos por interromper os relatos o mínimo possível para favorecer um fluxo de reflexão contínuo e livre pelo entrevistado.
Após a coleta dos dados, foi realizado um trabalho de decupagem, onde foram escolhidos alguns casos que traziam elementos que nos permitiriam explorar as questões que suscitaram a realização da pesquisa. Após a transcrição das entrevistas e da organização dos dados do caderno de campo, o caso de Joana foi escolhido para a escrita desse artigo tendo em vista a amplitude de temas que perpassam a sua HV e o seu trajeto terapêutico, além da disponibilidade que sua acompanhante apresentou quando convidada a participar da pesquisa. Ainda que apresentar um panorama do conjunto das histórias e trajetos terapêuticos possa ser útil para identificar confluências e divergências entre eles, a escrita das HV nos fez perceber que a apresentação dos dados através de um Estudo de Caso Único29, nos permitiria apresentar um nível de aprofundamento que possibilitaria um salto metodológico importante, ao demonstrar o que fica para trás quando a HV, os valores e os desejos dos indivíduos são tratados como dados de segunda importância.
Para realizar esse Estudo de Caso acompanhamos por dez dias as visitas à beira leito. Foram feitas três entrevistas semiestruturadas, com tempo de duração variando de 02h00 a 03h00 e uso de um roteiro preparado previamente com questões norteadoras. A primeira entrevista foi realizada pessoalmente e teve o áudio gravado. A segunda entrevista foi realizada por telefone e nessa ocasião a informante solicitou que não fosse gravada, ainda que tenha previamente autorizado o uso das informações mencionadas. A terceira entrevista foi realizada por videoconferência com vídeo e áudio gravado. Após a coleta de dados, os áudios foram transcritos e o caderno de campo foi sistematizado para servir também como fonte de dados. A partir daí deu-se início à escrita do Estudo de Caso Único que integrou o relatório final da pesquisa e esse artigo.
A história que apresentamos a seguir é fruto desse trajeto metodológico.
Resultados
O caso de Joana
Quando percebemos que Joana poderia ser um dos casos em potencial para essa pesquisa, já estávamos acompanhando a sua evolução clínica há pouco mais de uma semana. Ela buscava alternativas para o tratamento da doença que a acometeu no último ano: uma doença autoimune e rara que lesiona gravemente a pele e mucosas.
O caso era tratado com um cuidado especial pela equipe. Joana não vinha respondendo ao tratamento de corticoides e já estava com um comprometimento cutâneo de quase 90% do tecido. Como a doença já estava instalada há mais de um ano, o uso de analgésicos tinha pouco efeito na redução da dor gerado pelas lesões. Devido ao risco de contaminação, ela foi acomodada no único quarto isolado da enfermaria, no qual poderia estar durante sua internação. Isso reduziria o risco de infecção e criaria um ambiente menos invasivo e, ao mesmo tempo, acolhedor. Foi adotada também uma estratégia de oclusão das lesões com o enfaixamento completo do corpo, que era trocado diariamente. Murilo, o médico que a acompanhava, relatou que os banhos de leito chegavam a durar cerca de três horas por conta da dificuldade técnica do procedimento.
Uma das coisas que chamou nossa atenção nesse caso, foi a participação da acompanhante de Joana no processo de cuidado. Segundo Murilo, a filha era sempre participativa na mediação do diálogo com Joana, além de cooperar com a realização dos curativos e do banho.
Decidimos conhecer a HV de Joana quando a equipe começou a especular sobre a limitação das estratégias para a cura da doença. Os parâmetros imunológicos estavam respondendo mal e havia uma suspeita de infecção que obrigaria uma interrupção do tratamento de sua doença de base, por conta de uma contraindicação em relação ao antibiótico.
Sobre Joana
Aos 41 anos de idade Joana era, dentre muitas outras coisas, o retrato de brasileiras e brasileiros que se retiram da sua terra natal para buscar uma vida digna nas metrópoles do país. Viveu até o início da adolescência em uma cidade do interior de Pernambuco, trabalhando com o marido no que pudesse proporcionar o sustento da família.
Segunda filha de uma família de nove irmãos. A mãe costurava, lavava e limpava para fora, enquanto Joana se ocupava prioritariamente do cuidado dos irmãos mais novos. A mãe a encarregava do cuidado dos irmãos, de parte do sustento da família e, ainda, em parte das tarefas domésticas. O relato de Elis sugere uma relação conturbada entre a avó e a mãe.
As dificuldades de convívio familiar confluíram com o encontro de Joana com o homem que viria a se tornar seu marido e pai de Elis, Lázaro. Eles se casaram depois de pouco tempo de namoro, e se mudaram para uma casa alugada em sua cidade natal.
Depois de três tentativas de engravidar seguidas de abortos espontâneos, Joana consegue dar à luz no sétimo mês de gravidez. Depois da primeira filha, Joana ainda teve a experiência de mais 3 gestações que também ocasionaram abortos. Seis ao longo da vida.
O processo de mudança para São Paulo-SP veio em decorrência da instabilidade de empregos na sua cidade natal. Situaram-se primeiro na cidade de São Paulo-SP e depois de alguns anos, para uma cidade do interior do estado.
O lugar do trabalho na experiência de Joana
Na cidade nova, surge a oportunidade de abrirem uma lanchonete. A concretização desse negócio parece ter um efeito ambivalente, pois ao mesmo tempo em que marca um progresso financeiro, marca também uma intensificação nas atividades de trabalho, um pouco em detrimento da harmonia familiar e conjugal.
Elis relata uma série de brigas na relação dos pais decorrentes do excesso de trabalho. Para o pai, apesar da contradição, a saída para as crises dentro do ambiente familiar deveria ser resolvida com mais trabalho. No entanto, Joana parecia não se contentar com a ideia de reduzir sua vida ao trabalho.
É nesse contexto que a doença de Joana começa a apresentar seus primeiros sinais.
O Processo de Adoecimento
Elis fala do processo de adoecimento sempre em duas perspectivas. Por um lado, deixa claro que conhece a história clínica da mãe. Por outro lado, ela aponta também que, o que provocou a doença não foi um processo puramente biológico, mas de uma relação complexa entre a história da mãe, as relações sociais e familiares e um elemento religioso que tem bastante importância no relato.
O primeiro sinal clínico identificado foi uma lesão no couro cabeludo, que Joana atribuiu a uma reação de um tratamento capilar que havia feito. Em virtude do incômodo, ela procurou diversos profissionais (clínico geral, dermatologista e infectologista), mas as estratégias não surtiram efeito.
Apesar das dores, Joana ainda conseguia preservar sua rotina com autonomia, até que começaram a surgir bolhas em partes localizadas no corpo. A dificuldade para comer, as dores e a demora para encontrar uma solução para o problema, foram afetando psicologicamente Joana.
Tendo em vista o quadro clínico complicado, somado à dificuldade do diagnóstico e à ineficácia das estratégias utilizadas até então, Elis relata que começaram a surgir indicações religiosas como uma alternativa a ser buscada.
A espiritualidade como perspectiva terapêutica
Joana é cristã, mas nunca teve ressalvas quanto a conhecer outras experiências religiosas, o que a levou a procurar uma benzedeira. Elis acompanhou a mãe na consulta. Ao final do atendimento a senhora que as atendeu, lhes disse, nas palavras de Elis, “(...) olha filha, tá tudo bem com você [se referindo a Elis], mas a sua mãe tem alguma coisa que tá errado”.
Apesar de uma explicação que parecia fazer sentido para Elis, a consulta espiritual e as indicações terapêuticas da benzedeira não surtiram resultado prático na remissão da doença. Ela continuava a progredir e a decepção com a estratégia impactou negativamente o ânimo de Joana. Foi nesse contexto que a doença teve uma piora que levou Joana a procurar um hospital da cidade em que vivia. Foi quando, desde o começo das buscas por um diagnóstico, um médico cogitou como possibilidade de diagnóstico a doença que futuramente viríamos a saber qual era.
Hipótese levantada, Joana ficou internada por uma semana. Nesse período Elis relata uma melhora do quadro da mãe. Considerando o risco de infecção hospitalar, a equipe do hospital decidiu continuar o tratamento em casa. Apesar da decisão, não havia certeza ainda sobre o diagnóstico.
Elis relata que a volta para casa produziu uma resposta negativa imediata levantou novamente um alerta para a possibilidade de que a doença pudesse ter como causa algum tipo de interferência espiritual. É quando Joana decide pela segunda vez procurar orientação, mas agora com outra terapeuta.
Elis nos conta que a segunda terapeuta confirmou que “algo havia sido feito para a sua mãe”, mas que, apesar disso, ela não tinha capacidade de lidar com algo daquela natureza. Segundo Elis, a terapeuta lhe disse que sua mãe estava “(...) com alguma coisa muito forte”, e encaminhou para uma pessoa mais experiente. Elas procuraram esse terceiro terapeuta, que confirmou as outras duas versões anteriores,
“(...) te fizeram um trabalho que vai ser difícil de tirar, porque fizeram para matar. Você vai passar por uma fase em que você vai fazer muitos exames, você vai passar por muitos médicos, mas eles não vão conseguir te falar o que é, porque foge da capacidade deles de entender (...) essa piora sua é espiritual, então você não vai ver uma melhora e seus exames não vão dar em nada”, relata Elis, relembrando do que o terceiro terapeuta lhe disse na ocasião.
Joana vinha num processo de emagrecimento intenso. Quando a situação da desnutrição entrou num estágio crítico, Joana precisou novamente ser internada. Foi realizada, então, uma série de exames para investigar mais a fundo. Elis relata com surpresa o resultado dos exames,
“Por incrível que pareça, veio um bolo de exames e nada. Não deu uma alteração em nada. Sangue, urina e isso, aquilo, nada. Eu fiquei abismada com aquilo, sabe? Aí me voltou um pouco esse rapaz [o terceiro terapeuta] (...)”.
Nesse momento já estava nítido que deveríamos explorar com mais detalhes a relação de Joana com a dimensão espiritual e religiosa, então pedimos para Elis falar sobre o modo como a mãe encarou o diagnóstico espiritual que o terceiro terapeuta havia dado, ao que ela respondeu o seguinte,
“ (...) quando você se vê batendo em tudo quanto é hospital, em tudo que é médico, em tudo que é especialista e ninguém te fala nada, ninguém melhorando o seu caso, uma bateria de exames e tudo dando negativo, você se abre para outras opções”.
Vale a pena destacar um elemento que aparece na fala de Elis. Ela nos conta que durante a consulta, o terapeuta demonstra uma capacidade de olhar para o processo de Joana de um modo complexo, ao encontrar um lugar tanto para a racionalidade espiritual, quanto para o saber médico,
“Espiritualmente eu vou ver o que eu posso fazer por você, mas em nenhum momento deixa de ir no médico, porque isso tá se expondo como uma doença na sua vida, você tem que tratar, não vai ser espiritualmente, nem vai ser só os médicos que vão conseguir, vai ser uma junção de um e de outro”, relata Elis, lembrando do que o terapeuta lhe disse.
Como parte das recomendações desse último terapeuta, Elis conta que foi sugerido que a mãe passasse a usar um colar de proteção que ele ofereceu. A função do colar era proteger Joana de energias ruins que pudessem comprometer ainda mais a sua situação. O que, segundo Elis, surtiu um efeito prático, uma vez que, no tempo em que Joana usou o colar, a sua situação clínica começou a dar sinais de melhora e o esclarecimento do diagnóstico foi se tornando realidade.
No entanto, com o esgotamento das possibilidades terapêuticas do hospital em que estava, Joana foi transferida para outro de maior complexidade, em uma cidade vizinha. Nesse processo a equipe de cuidado solicitou que ela tirasse o colar, por conta das normas sanitárias da instituição. Elis conta que elas não se opuseram ao protocolo, mesmo que ela acredite que o procedimento possa ter contribuído para a nova piora do quadro.
“(...) aí quando foram fazer o exame, ela teve que tirar o colar. No que ela tirou, de uma noite para outra, ela não comia nada, ela não fazia mais nada. Aí eles se desesperaram, falaram que nunca tinham visto uma doença daquela (...)”.
Apesar de Elis ser enfática sobre a eficácia da alternativa espiritual, a demora pelo diagnóstico, que até então, depois de meses de procura por especialistas, ainda não havia sido fechado, provocou um sentimento de urgência, que a levou novamente a se ancorar nas possibilidades biomédicas para o tratamento. Essa virada de perspectiva acontece simultaneamente com o esgotamento das possibilidades terapêuticas do segundo hospital em que esteve.
O terceiro hospital
A partir desse momento, pudemos acompanhar de perto o quadro clínico de Joana, que estava no estado mais crítico do adoecimento. Quando tomamos conhecimento do quadro, nenhuma dessas informações apresentadas até aqui haviam sido levantadas: sua relação familiar, sua espiritualidade, o trajeto terapêutico que havia levado Joana até aquela situação. Havia uma preocupação da equipe em reduzir o sofrimento que envolvia a realização dos procedimentos, no entanto, parecia não haver espaço para a HV de Joana.
No terceiro hospital, o de maior complexidade assistencial dentre os que ela havia passado até então, a realização do diagnóstico foi rápido. Por se tratar de uma doença rara, não faremos menção ao nome da patologia para preservar a privacidade de Joana.
Mesmo com a definição do diagnóstico, a doença não parou de progredir. As dores, a perda da independência, a desconexão com sua vida cotidiana, o afastamento da vida profissional e conjugal e a dificuldade de encontrar uma terapêutica para a doença tiveram em Joana um impacto profundo. Nesse momento, depois de perceber que havíamos conseguido estabelecer uma relação de confiança com a informante, nos parecia possível explorar um pouco dos diálogos que ela vinha tendo com a mãe, considerando uma possibilidade de piora irreversível da doença que poderia levar Joana à morte.
O processo de fim de vida
“Entrevistador: O prognóstico de Joana pode evoluir para situações clínicas bem diferentes, tanto positivas, quanto negativas. Dentre essas possibilidades, existe o risco da situação se complicar e ela vir a óbito. Sua mãe tem dimensão dessa situação?
Elis: No momento do banho ela até prefere.
Esse é o trecho do diálogo em que Elis nos conta sobre o modo como a mãe encara a possibilidade da morte. Elis avança deixando claro que, ao contrário do que essa passagem pode sugerir, a mãe não vê na morte a única forma de interromper seu sofrimento. Segundo a filha, esse desejo vem à tona nos momentos de intensificação da dor.
Ao responder sobre a questão de como a mãe elabora a possibilidade da morte, Elis nos conta que a mãe chega, como na passagem destacada, a preferir a morte do que a prolongação daquele estado de sofrimento quando o procedimento está sendo realizado. No entanto, nos momentos em que as dores são amenizadas, a filha diz que ela sente medo da morte e que faz planos.
Aproveitamos o assunto para perguntar para Elis se a mãe sabe do seu estado clínico em geral. Ela nos diz que sim, “por conta da dor”. Prossegue contando também que Murilo é sempre claro em relação ao estágio de evolução.
Elis conta que Joana refere com frequência o desejo de morrer em casa, caso não possa mais ser curada no hospital. Como relatou,
“Ela [Joana] fala assim para mim: “se for para morrer sofrendo, me leva para casa. Não sei se você pode autorizar isso, se eu tenho que assinar alguma coisa, mas se for para morrer sofrendo assim, me leva para casa, que eu vou morrer no meu ambiente (...)”. Mas o que acontece, eu [Elis] não tenho nenhum diagnóstico do tipo: “olha, sua mãe vai morrer”. Ela tá sujeita a isso, mas não é a realidade dela agora (...) Eu sinto que se eu fizer isso pra aliviar a dor dela, quem vai tá matando sou eu (...) Se o médico tivesse falado assim pra mim: “olha, não tem muito o que fazer mais”, eu vou optar se eu quero que ela fique aqui ou se eu quero levar ela pra casa. Ai sim eu vou optar pelo o que ela achar melhor para ela”.
Nos últimos dias que acompanhamos a equipe médica já sabia que o prognóstico de Joana era de fim de vida. No entanto, Elis nem a mãe foram informadas dessa constatação.
Por conta das dores ela passava a maior parte do tempo sedada. Isso impossibilitava a realização de diálogos com a equipe de cuidado, e assim, dificultava que eles tomassem conhecimento dos desejos que rondam o fim de vida. É preciso dizer que a sedação era encarada por todos os envolvidos – equipe de cuidado, Joana e Elis – como uma medida efetiva de conforto, dada a intensificação das dores. No entanto, nos momentos em que ela estava lúcida e orientada, apenas quem se aproximava para conversar era Elis, que também parecia ser a única a saber dos desejos da mãe.
Três dias após a última conversa que tivemos com Elis, em um sábado pela manhã recebemos a notícia de que Joana havia falecido, como consequência de uma abrupta infecção hospitalar que a acometeu. Como disse posteriormente Elis, Joana “descansou”.
Discussão
A antropologia, seja no eixo mais geral enquanto disciplina21,22,30, seja na sua articulação com o campo da saúde9,23, nos coloca como provocação a capacidade de levar a sério o que nossos sujeitos de pesquisa têm a dizer sobre o que lhes interrogamos. Nessa pesquisa, ao perguntar a nossa interlocutora sobre a HV da mãe, surgiram: i) menções recorrentes sobre os conhecimentos e estratégias mobilizadas pela sua família no manejo do adoecimento da sua mãe; e ii). menções sobre os desejos da mãe no contexto de seu fim de vida.
Para que, em ambas as situações, o sujeito tenha sua subjetividade considerada no cuidado, é necessário disposição para ouvir o que o paciente tem a dizer, e mais do que isso, atenção à comunicação involuntária produzida a partir dessa interação e no quanto o ambiente de cuidado deixa à vontade o sujeito para manifestar seu conhecimento e seus desejos8,14,18.
O lugar do saber do outro
Um exemplo para refletirmos sobre o tema que dá nome a essa sessão é a situação do uso/não uso do colar na história de Joana.
No seu relato, Elis coloca a estratégia do uso do colar como recurso terapêutico em um lugar de dúvida. Desde a primeira vez que nos falamos, ela pareceu ter clareza que estava diante de pessoas, e dentro de uma instituição, que representam a racionalidade científica. Essa observação é importante pois revela o modo como o conhecimento científico é apreendido socialmente: um estatuto de verdade que credencia quem pode dizer e o que pode ou não ser dito31. No caso de Joana, apesar da eficácia que o uso do colar produziu, Elis relata que, por conhecer as regras sanitárias do hospital, nunca chegou a comunicar as equipes que o colar vinha cumprindo uma função terapêutica.
Durante a coleta de dados, o modo como o ambiente de internação foi se desvelando, tornou evidente que, a condução dos casos não abre espaço para que os acompanhantes possam relatar mais detalhes das estratégias de cuidado realizadas antes da internação. Os casos são discutidos com base em parâmetros clínico-biomédicos, reunido com feeling e experiência clínica, ainda que tal sensibilidade não pareça incluir essas dimensões terapêuticas religiosas acionadas por Joana.
Os achados dessa pesquisa demonstram certa inclinação da equipe em valorizar tecnologias duras e leves-duras32 ao mesmo tempo em que opera um não-reconhecimento, ou uma subvalorização de elementos centrais dos processos de cuidado ligados a tecnologias leves construídas com base na comunicação, no diálogo, na escuta e no acolhimento33.
Espiritualidade e Saúde
O debate acadêmico sobre o papel e/ou a eficácia do cuidado espiritual como perspectiva terapêutica não é recente e reúne contribuições relevantes de autores do norte e do sul global 34,35,36,37,38. Apesar do interesse pelo assunto ter produzido uma significativa literatura acadêmica, o modo como o componente espiritual é tratado pela equipe responsável por Joana, revela uma percepção de baixa legitimidade. O desconhecimento por parte da equipe de cuidados do investimento duplo de Joana, tanto pela via biomédica quanto pela via espiritual, no processo de tratamento da doença, bem como das eficácias experimentadas em decorrência do segundo tipo, é importante para evidenciar que, em contextos como o que apresentamos, ainda é um desafio compor no campo das estratégias clinicas, saberes e conhecimentos de outras matrizes epistemológicas.
Apesar desse desafio, trabalhos como o de Bezerra39 apontam para um aumento expressivo de instrumentos clínicos que objetivam abordar a espiritualidade em pacientes sob cuidados paliativos. Ou seja, apesar da resistência de certas especialidades e áreas médicas, a literatura aponta para um aumento da atenção para o componente espiritual na projeção de cuidados para sujeitos em fim de vida.
Por fim, gostaríamos de destacar, no bojo das reflexões propostas por Akerman37 que a espiritualidade como recurso terapêutico pode ser pensada na chave do que os autores chamam, inspirados pela teoria Salutogênica40, de ativos em saúde. “Os ativos em saúde podem operar a nível de pessoa, grupo, comunidade e/ou população como fatores de proteção (ou promoção) para amortecer o estresse diário” (pg. 2). Uma das chaves de análise possíveis a partir dessa proposta é compreender que, mesmo em contexto de fim de vida, certas práticas e modos de vida, tem potencial de produzir saúde e conforto, independente do desfecho da situação patológica enfrentada.
A comunicação e o lugar dos desejos e significados
Acompanhar a atuação da equipe, ter acesso às discussões e compreender como o manejo do caso era realizado nos permitia acessar informações que fizeram com que percebêssemos que o amadurecimento da prática clínica de profissionais que trabalham na assistência de indivíduos em situação de fim de vida faz com que esses profissionais desenvolvam uma sensibilidade técnica, que lhes permite identificar quando esses indivíduos não conseguirão mais falar sobre seus desejos e estabelecer limites para tentar reverter a situação clínica que estão tratando. Referimo-nos a uma sabedoria prática41, que, inclusive, um dos médicos que coordena o setor onde a coleta de dados foi feita, se refere de modo repetido quando os prognósticos começam a ficar mais evidentes.
Não obstante tal sensibilidade o caso em questão parece demonstrar a ausência dessa comunicação, seja diretamente com Joana – cuja manifestação sobre desejos e escolhas indicaria a participação autônoma dela no processo de cuidado -, seja com Elis, sua filha, no caso da primeira não conseguir se manifestar dadas suas condições clínicas.
A experiência de campo nos fez perceber que a comunicação de más notícias é uma prática que poucos médicos, residentes e estudantes se sentem à vontade para realizar. Consequentemente, essa dificuldade, ou essa falta de disposição, pode interferir diretamente na vivência de um fim de vida que esteja o mais próximo possível dos desejos dos sujeitos sob cuidados.
No caso em questão, não apenas a participação de Joana no manejo do processo de cuidado foi subtraída, mas também seu conhecimento acerca do prognóstico. É como se a aproximação da morte pudesse ser reduzida apenas ao momento em que se finalizam os cuidados, a despeito do que já se sabe quanto à importância da morte na experiência humana1,2,3,4.
Joana foi, assim, privada da possibilidade de significar, ressignificar e dar um sentido para esse momento em sua vida, o que sói ocorrer na aproximação da morte, como a experiência de Elis parece corroborar.
Apesar das angústias que Elis relata em diversos trechos da nossa conversa, ela elabora reflexões importantes sobre sua experiência com o processo de adoecimento, internação e cuidado da mãe, que parece nos indicar que as experiências ao longo do trajeto terapêutico foram necessárias para que ela ressignificasse uma série de questões em sua vida. Como ela disse:
“Eu não digo que aqui é uma experiência ruim, eu digo que todo mundo que não saiba o sentido da vida, deveria ter a experiência de morar como eu moro aqui (...) Caso ela chegue a vir a óbito (...) uma coisa ela conseguiu, ela conseguiu transformar muita coisa”.
Chama a atenção também o modo como ela localiza o lugar de Deus em sua vida e nas expectativas de alívio do sofrimento da mãe. Fica evidente no destaque que ela dá para o assunto que este tem sido um tema recorrente na sua elaboração desse processo,
“Às vezes, eu tento imaginar que Deus não tem muito a ver com o sofrimento dela, com isso que está acontecendo (...) ele tem a ver com vida, com perspectiva de vida, com destino, então eu imagino assim: pode ser que com o óbito dela, ou com o sofrimento dela, Ele não queria mudar a vida dela, ou ela. Talvez aquilo ali seja o tempo dela ir mesmo, mas isso seja pra mudar meu pai, eu, me deixar mais forte. Eu me tornei outra pessoa, mais responsável, com outra cabeça, sabe? Então, às vezes é só isso (...)”.
O que Elis traz está além do dado objetivo da morte como o fim; ela inclui um dado subjetivo, mediante sua imaginação, que expressa uma dimensão simbólica constitutiva do ser humano, como assinalado por Morin2. Tornar-se outra pessoa como um desdobramento da morte de outrem corresponderia, nesse caso, a uma versão do mito da morte-renascimento que junto ao mito do duplo estavam presentes em todas as culturas estudadas por esse autor.
A possibilidade da morte da mãe é inserida numa narrativa que procura desconstruir a ideia de que se trata de uma vivência que carrega em si apenas sofrimento. Para Elis não se trata de um desejo divino ou de uma punição. Ganha destaque na sua fala a contingência e as incertezas que rondam o processo de intensificação do sofrimento da mãe, que nada teria a ver com uma provação. A proximidade da morte de sua mãe abriu espaço para um processo de significação positivo, que teria servido para transformar a vida do pai e de si própria.
O que Elis acaba por nos ensinar com essa experiência, é que Joana foi privada de um processo de significação que talvez pudesse ter produzido uma morte mais conectada com a sua vida.
Considerações Finais
Com a análise do caso único chamamos a atenção para a singularidade dos processos de significação que podem contribuir para uma abordagem da Saúde Coletiva mais próxima às demandas sociais contemporâneas focadas numa pluralidade epistemológica e na diversidade dos modos de ser, viver e morrer.
Em contexto de fim de vida, é comum que os indivíduos recorram a saberes diversos para produção de significados e sentidos na elaboração das experiências vividas1,2. Apesar disso, conforme aponta Fernandez8, o conhecimento médico hegemônico, construído a partir de uma abordagem ontológica do processo saúde-doença tende a desconsiderar esse processo de significação em seu raciocínio clínico, produzindo um ocultamento das estratégias articuladas pelos sujeitos a partir de outras epistemologias, e isso não é diferente no caso da experiência do fim de vida, conforme nos ensina o caso de Joana.
O manejo do quadro clínico que registramos aqui, não permitiu que ela pudesse ter construído ou expressado um sentido para seu fim de vida em razão dessa situação nada incomum no âmbito dos serviços de saúde dessa natureza. Se com Joana não foi possível aprender algo mais sobre a pluralidade dos significados de morrer, o relato de Elis, sua filha, mostra, como cremos, a importância de considerá-los para o desenvolvimento de uma prática médica mais inclusiva dos sujeitos sob cuidado nesse contexto.
Financiamento
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
Referências Bibliográficas
1. Rodrigues JC. Tabu da Morte. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2006.
2. Morin E. O Enigma do Homem. 2ª ed. Rio de Janeiro, Zahar Editores; 1979.
3. Elias N. A Solidão dos Moribundos. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
4. Ariès P. História da morte no ocidente. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.
5. Bharadwaj AD. Culture in End-of-Life Care. Perspect Biol Med [online]. 2021;64(2):271-280. doi: 10.1353/pbm.2021.0012. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994397/
6. Martínez B. La muerte como proceso: una perspectiva antropológica. Ciênc saúde coletiva [Internet]. 2013Sep;18(9):2681–9. Disponible en: https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000900023
7. Hamel L; Wu B.; Brodie M. Views and Experiences with End-of-Life Medical Care in Japan, Italy, the United States, and Brazil: a cross-country survey. [report] Kaiser Family Foundation. 2017. Available from: https://www.kff.org/other/report/views-and-experiences-with-end-of-life-medical-care-in-japan-italy-the-united-states-and-brazil-a-cross-country-survey/
8. Fernandez JCA. Determinantes culturais da saúde: uma abordagem para a promoção de equidade. Saude soc [Internet]. 2014Jan;23(1):167–79. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-12902014000100013
9. Silva RA da, Fernandez JCA, Silva M de F dos S, Sacardo DP. Para levar a sério o que os terreiros têm a nos dizer sobre saúde. Relig soc [Internet]. 2020Sep;40(3):145–68. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0100-85872020v40n3cap06
10. Ortega F. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura contemporânea. 1 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
11. Tanaka Gutiez M, Efstathiou N, Innes R, Metaxa V. End-of-life care in the intensive care unit. Anaesthesia. 2023 May;78(5):636-643. doi: 10.1111/anae.15908. Epub 2023 Jan 12. PMID: 36633479. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36633479/
12. Tatum PE. End-of-Life Care: Hospice Care. FP Essentials. 2020; vol. 498: 26-31. PMID: 33166104. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33166104/
13. Siqueira JE, Pessini L. Reflexões sobre cuidados a pacientes críticos em final de vida. Rev. bioét.(Impr.). [Internet]. 2019;27 (1). Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/revista_bioetica/article/view/1543
14. Maingué PCPM, Sganzerla A, Guirro ÚB do P, Perini CC. Discussão bioética sobre o paciente em cuidados de fim de vida. Rev Bioét [Internet]. 2020Jan;28(1):135–46. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983-80422020281376
15. Campos VF, Silva JM da, Silva JJ da. Comunicação em cuidados paliativos: equipe, paciente e família. Rev Bioét [Internet]. 2019Oct;27(4):711–8. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983-80422019274354
16. Giannitrapani KF, Yefimova M, McCaa MD, Goebel JR, Kutney-Lee A, Gray C, Shreve ST, Lorenz KA. Using Family Narrative Reports to Identify Practices for Improving End-of-Life Care Quality. J Pain Symptom Manage. 2022 Oct;64(4):349-358. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2022.06.017. Epub 2022 Jul 5. PMID: 35803554. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35803554/
17. Merhy EE. Saúde: a cartografia do trabalho vivo em ato. São Paulo: Hucitec; 2007
18. Kovács MJ. A caminho da morte com dignidade no século XXI. Rev Bioét [Internet]. 2014Jan;22(1):94–104. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bioet/a/QmChHDv9zRZ7CGwncn4SV9j/
19. Minayo MCS, Deslandes SF, Neto OC, Gomes R. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
20. Chizzotti A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1991.
21. Geertz C. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
22. Magnani, JGC, Spaggiari E, Nogueira MHVG, Chiquietto RV, Tambucci YB. Etnografias urbanas: quando o campo é a cidade. 1a ed. Petrópolis-RJ, Ed. Vozes: 2023.
23. Caprara A, Landim LP. Etnografia: uso, potencialidades e limites na pesquisa em saúde. Interface (Botucatu) [Internet]. 2008Apr;12(25):363–76. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1414-32832008000200011
24. Menezes RA. Etnografia do ensino médico em um CTI. Interface (Botucatu) [Internet]. 2001Aug;5(9):117–30. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1414-32832001000200008
25. Bastos MAR. Etnografia: estratégia metodológica utilizada para contextualizar o cenário cultural do CTI de um hospital universitário. Rev esc enferm USP [Internet]. 2001Jun;35(2):163–71. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0080-62342001000200011
26. Magnani JGC. Etnografia como prática e experiência. Horiz antropol [Internet]. 2009Jul;15(32):129–56. Disponível em https://doi.org/10.1590/S0104-71832009000200006
27. Guber, Rosana. La etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2001.
28. Bertaux D. Narrativas de vida, a pesquisa e seus métodos. São Paulo: Paulus/Natal: EdUFRN; 2010.
29. Yin RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi - 2.ed. -Porto Alegre: Bookman, 2001.
30. Goldman M. Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia. Rev Antropol [Internet]. 2003;46(2):445–76. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-77012003000200012
31. Chauí MS. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez.1997.
32. Merhy EE, Cecílio LCO. A integralidade do cuidado como eixo da gestão hospitalar. Campinas: Unicamp, 2003.
33. Fernandez JCA, Westphal MF. O lugar dos sujeitos e a questão da hipossuficiência na promoção da saúde. Interface (Botucatu) [Internet]. 2012Jul;16(42):595–608. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1414-32832012005000037
34. Levin JS, Vanderpool HY. Is frequent religious attendance really conducive to better health? Toward an epidemiology of religion. Soc Sci Med. 1987;24(7):589-600. doi: 10.1016/0277-9536(87)90063-3. PMID: 3589753. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3589753/
35. De la Torre Castellanos R. La espiritualización de la religiosidad contemporánea. Cienc. Soc. y Relig. [Internet]. 2016;18(24):10-7. Disponible en: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/csr/article/view/8669733
36. Toniol R. O que faz a espiritualidade?1. Relig soc [Internet]. 2017May;37(2):144–75. Available from: https://doi.org/10.1590/0100-85872017v37n2cap06
37. Akerman M, Mendes R, Lima S, Guerra HL, Silva RA da, Sacardo DP, et al.. Religion as a protective factor for health. einstein (São Paulo) [Internet]. 2020;18:eED5562. Available from: https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2020ED5562
38. Copelotti L. A incorporação do cuidado espiritual na prática clínica em cuidados paliativos. Rev. Debates do NER [Internet] 2024; Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/debatesdoner/article/view/140633
39. Bezerra JN, Evangelista CB, Cruz RA de O, Ferreira F Ângelo. Instrumentos que avaliam a espiritualidade de pacientes em cuidados paliativos: revisão integrativa da literatura. RI [Internet]. 2019; 7(2):160-73. Disponível em: https://periodicos.unipe.br/index.php/interscientia/article/view/930
40. Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass; 1987
41. Ayres JR de CM. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde. Saude soc [Internet]. 2004Sep;13(3):16–29. Available from: https://doi.org/10.1590/S0104-12902004000300003