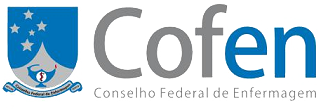0090/2025 - Segurança alimentar e Alimentação Escolar: consumo e comportamento alimentar de estudantes de uma instituição federal de ensino
Food security and school meals: consumption and eating behaviour of students at a federal educational institution
Autor:
• Juliana Cesário Aragi - Aragi, JC - <juliana.aragi@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8878-517X
Coautor(es):
• Daniel Henrique Bandoni - Bandoni, DH - <dbandoni@unifesp.br>ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1638-1437
Resumo:
Estudo transversal com o objetivo de analisar a relação entre a insegurança alimentar, o consumo da alimentação escolar e o comportamento alimentar dos estudantes matriculados no ensino médio e técnico de todos os campi de uma instituição de ensino federal de São Paulo. A principal variável do estudo foi o nível de (in)segurança alimentar e nutricional e, as variáveis independentes foram sociodemográficas, consumo da alimentação escolar e de comportamento alimentar. Para avaliar a relação entre o nível de (in)segurança alimentar nutricional e as variáveis foi realizado o teste Qui-quadrado de Pearson e regressão multinomial. Participaram do estudo 702 estudantes, sendo que 49,86% viviam em domicílios com insegurança alimentar. O consumo diário da alimentação escolar se relacionou com a insegurança alimentar, bem como não consumir café da manhã e alimentos marcadores de uma alimentação saudável. Assim, a oferta e o consumo da alimentação escolar, bem como fatores sociodemográficos demonstraram relação com a segurança alimentar, sendo, portanto, crucial o conhecimento da situação da segurança alimentar e nutricional entre os estudantes atendidos, para melhor direcionamento das políticas e programas institucionais.Palavras-chave:
Segurança alimentar e nutricional, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Alimentação escolar, Política pública, Institutos federais.Abstract:
This cross-sectional study aimed to assess the relationship between food insecurity, consumption of school meals, and eating behavior of students enrolled in the campuses of a federal educational institution in São Paulo. The main variables in the study were the level of food and nutritional (in)security, and the independent variables were sociodemographic factors, consumption of school meals, and eating behavior. Pearson's chi-square test and multinomial regression were used to assess the relationship between the level of nutritional food (in)security and the variables. A total of 702 students participated in the study, 49.86 per cent of whom lived in food-insecure households. Daily consumption of school meals was associated with food insecurity, as did not eat breakfast or foods that mark a healthy diet. Thus, the supply and consumption of school meals, as well as sociodemographic factors, showed a relationship with food security, and it is therefore crucial to understand the situation of food and nutritional security among students to better target institutional policies and programs.Keywords:
Food and nutritional security, National School Feeding Program (PNAE), School meals, Public policy, Federal institutes.Conteúdo:
A segurança alimentar e nutricional (SAN) é conceituada de forma multidimensional e abrangente 1. Consiste no direito de todos os cidadãos a ter acesso a alimentos de forma regular e constante, com qualidade, em quantidade suficiente e produzidos de forma sustentável 2. No entanto, não é esta a situação em que a maioria dos brasileiros se encontra, sendo estimado que em 2022, mais de 58% dos domicílios brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar (IA) 3.
A IA é associada a fatores sociodemográficos, como localidade da residência, raça e cor, sexo, acesso à saneamento básico, participação em programas de transferência de renda bem como com a idade dos integrantes do domicílio. Nas residências com a presença de pessoas com até 18 anos, as chances de possuírem algum grau de IA são maiores 3,4. Além disso, a IA também apresenta relação com o desenvolvimento de doenças crônicas e o absenteísmo escolar 5,6.
Como política pública para o enfrentamento da IA, encontra-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 7. Sendo esta uma das políticas de SAN mais duradouras do país, bem como a segunda maior política de alimentação escolar (AE) do mundo 8,9. O programa é responsável pela oferta de AE a todos os estudantes do ensino básico público brasileiro, sendo que em 2022 atendeu mais de 37 milhões de estudantes 7,10.
Esta política é responsável por atender parte da oferta de alimentos aos estudantes. As refeições ofertadas devem atender de 20% a 70% das necessidades nutricionais diárias de energia, macronutrientes e micronutrientes prioritários, dependendo do período em que permanecem na escola, bem como a localidade em que a escola se encontra e o nível do ensino ofertado 11. No entanto, em alguns casos a refeição ofertada pela escola se torna a principal ou a única ingerida pelo estudante ao longo do dia 12.
Neste cenário estão inseridos os estudantes do ensino médio e técnico, que são parte do público atendido pelo PNAE. Contudo as pesquisas que analisam a situação de SAN dos estudantes acabam por não inserir estas modalidades de ensino 13,14,15,16. Quando os inserem, não possuem a análise direta da SAN, realizando medidas de indicadores indiretos da mesma 17, 18, 19.
Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a IA, o consumo da AE e o consumo e comportamento alimentar dos estudantes matriculados no ensino médio e técnico de todos os campi em funcionamento, com oferta de ensino básico de uma instituição de ensino federal de São Paulo, ajustada para variáveis sociodemográficas.
Materiais e métodos
Desenho do estudo e população
Trata-se de um estudo transversal realizado com os estudantes matriculados no ensino básico (curso técnico integrado ao ensino médio, curso técnico concomitante, subsequente e educação de jovens e adultos) de todos os campi em funcionamento, com oferta de ensino básico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
Inicialmente, foi realizado o levantamento do quantitativo de estudantes matriculados no ensino básico dos 37 campi ativos do IFSP. Segundo o Sistema Unificado de Administração Pública, no momento da verificação, eram 16.961 estudantes matriculados no IFSP, em cursos presenciais do ensino básico.
O cálculo da amostra foi realizado por amostragem aleatória simples para representar a população de estudantes do ensino básico matriculados no IFSP. Foi considerado um grupo homogêneo, com erro amostral de 5% e intervalo de confiança de 95%, estratificado por sexo, sendo verificada a necessidade de uma amostra total de 770 estudantes.
Todos os estudantes matriculados no ensino básico do IFSP em março de 2023 foram incluídos para o cálculo amostral, bem como foram considerados aptos a participar da pesquisa. Os estudantes matriculados no ensino superior ou qualquer outra modalidade de ensino ofertada pelos campi foram excluídos.
A coleta de dados foi realizada entre maio e setembro de 2023, por questionário elaborado pelo aplicativo Google Forms® e encaminhado via online aos estudantes, através de e-mail e/ou por mensagem para os números de contatos pelo aplicativo Whatsapp®, quando o número de celular estava disponível, além de publicações com o convite para participação na pesquisa no site dos campi e Instagram®.
Instrumentos e variáveis do estudo
Os dados foram coletados por questionário estruturado, com perguntas predominantemente fechadas, com o objetivo de verificar a percepção dos estudantes quanto a sua segurança alimentar (SA) e de sua família, realizar caracterização socioeconômica, verificar a adesão à alimentação escolar e analisar o consumo alimentar geral dos estudantes.
A variável dependente do estudo é a percepção da SA nos domicílios pelos estudantes. Para sua avaliação foi utilizada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) em sua versão curta com 8 questões, com pequenas adaptações na linguagem, para atender ao público-alvo. Esta versão foi utilizada, pois demonstrou maior facilidade de aplicação e menor tempo de coleta, além de ter sido validada e indicada como adequada para ser utilizada em todos os tipos de domicílios e regiões 20.
Os critérios para classificação da SA no domicílio de acordo com a pontuação na EBIA foram: domicílios em segurança alimentar (zero pontos), IA leve (1 a 3 pontos), IA moderada (4 a 5 pontos) e IA grave (6 a 8 pontos) 20. Para fins de análise estatística e considerando a restrição quantitativa de alimentos nestes grupos 21, as categorias IA moderada e grave foram agrupadas.
Como nenhum indicador consegue avaliar a SAN de forma isolada, também foram avaliados outros fatores associados a IA, como a caracterização sociodemográfica e o consumo alimentar dos estudantes 20,22.
As variáveis sociodemográficas analisadas foram: vínculo empregatício do responsável financeiro no domicílio, participação em programas de transferência de renda, assistência estudantil ou aposentadoria, qual tipo de sistema de saúde utilizado (público (SUS) ou privado), escolaridade materna e paterna, raça/cor, sexo, número e característica dos moradores (quantidade de crianças, adolescentes e idosos) e nível socioeconômico do domicílio, definido pelo Critério Brasil de 2022, determinado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 23.
O consumo e comportamento alimentar dos estudantes foi analisado pelo questionário de Marcador de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Este instrumento contempla marcadores de consumo alimentar, sendo considerado como marcador saudável o consumo de frutas, verduras e feijão; e não saudável o consumo de hambúrguer e embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, biscoitos salgados e salgadinhos de pacotes e doces, guloseimas e biscoitos recheados 24. Para avaliar o consumo dos alimentos, principalmente os marcadores de consumo não saudável, foram realizadas algumas alterações no questionário. As mudanças foram realizadas para avaliar o consumo destes alimentos no ambiente escolar ou fora dele de forma mais detalhada, no entanto sem gerar impactos na metodologia de aplicação do mesmo. O consumo de refrigerante e de salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados, foram adicionados como uma categoria separada das bebidas açucaradas e macarrão instantâneo, respectivamente, e, além disso, foi adicionada a pergunta sobre o consumo de macarrão instantâneo e o consumo de alimentos prontos para o consumo congelados.
Para classificação da adesão à alimentação escolar foram determinados os seguintes parâmetros: não consome, consome parcialmente (uma a quatro vezes na semana), consome diariamente e no campus não possui oferta de AE. Além disso, também foi questionado sobre se os estudantes levavam ou não alimentos de casa para a escola.
Análise dos dados
Inicialmente foi realizada a análise descritiva das variáveis de interesse do estudo descritas por suas frequências e porcentagem de distribuição. Além disso, para avaliar a diferença entre as variáveis do estudo e a SA, utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson. Ademais, para analisar a relação entre a SA e adesão à alimentação escolar e o comportamento e o consumo alimentar dos escolares, foram utilizados modelos de regressão multinomial. Para ajustar esses modelos foram utilizadas variáveis sociodemográficas que apresentaram uma associação significativa.
Para o modelo de regressão, foram inicialmente selecionadas as variáveis que tiveram associação no teste do qui-quadrado. Após isso, as variáveis foram incluídas uma a uma no modelo de regressão multinomial, sendo iniciada por aquele que teve o p-valor menor no teste do qui-quadrado. Foram mantidas no modelo ajustado todas as variáveis com p<0,05 ou que alteraram o coeficiente de regressão de outra variável em mais de 20%. O controle da multicolinearidade foi realizado durante a modelagem, com a exclusão da variável quando verificada a ocorrência da multicolinearidade acima do limite de VIF > 10. Para todas as análises considerou-se p<0,05 e foi utilizado o software STATA®, versão 14.2.
Considerações éticas
O projeto (nº0659/2022) foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP e do IFSP sob os pareceres nº 5.941.781 de 14 de março de 2023 e nº 6.043.093 de 06 de maio de 2023, respectivamente.
Resultados
Participaram da pesquisa 702 estudantes do ensino básico dos 37 campi ativos até o momento da coleta de dados, sendo a maior parte destes matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio (70,9%).
Quanto a SA nos domicílios dos participantes, aproximadamente a metade da amostra (49,86%) apresentou algum grau de IA. Sendo distribuídos em insegurança alimentar leve (30,06%), moderada (10,54%) e grave (9,26%).
Em relação ao consumo da AE, 11,97% dos participantes indicaram que a escola não oferta refeições. Nos locais em que a alimentação é ofertada, 79,2% indicaram que consomem o que é servido ao menos uma vez na semana e 8,83% disseram que não fazem o consumo dos alimentos ofertados. A presença de cantina nos campi foi indicada por 84,9% dos estudantes e o hábito de levar alimentos de casa para a escola por 50,28% dos participantes.
Na análise de associação da IA com fatores socioeconômicos, observa-se que existe uma relação positiva (p<0,05) com as variáveis analisadas. Destaca-se que os estudantes matriculados no EJA são os que mais se encontram em residências com IA grave. Além disso, que os domicílios em IA moderada e grave apresentaram maior percentual de respondentes pretos e pardos, com utilização do sistema público de saúde, o grau de escolaridade do pai e da mãe foi de analfabeto ou ensino fundamental incompleto, tinham crianças no domicílio, sem a presença de adolescentes, que recebiam bolsa família e o auxílio permanência ou algum outro programa social e da classe socioeconômica D/E (tabela 1).
Na tabela 2, verifica-se a associação positiva entre as variáveis de adesão à alimentação escolar e comportamento alimentar e a IA. No que se refere a AE, os estudantes que indicaram que a escola não oferta foram os que apresentaram maior prevalência de algum grau de IA. Enquanto os estudantes que indicaram levar comida de casa para escola e não realizar as refeições diárias habitualmente apresentaram maior percentual de SA.
Em relação ao consumo alimentar dos estudantes, apenas os marcadores de alimentação saudável apresentaram relação positiva com a IA. Sendo maior a prevalência desta entre os estudantes que relataram não ter consumido feijão, fruta fresca e verdura e legume no dia anterior a pesquisa (tabela 3).
No modelo de regressão multinomial apresentado na tabela 4, observa-se menor risco relativo de residir em domicílio com IA entre os estudantes que indicaram não receber auxílio permanência estudantil. Na IA moderada e grave não ter criança na residência e não receber auxílio de nenhum programa social também tiveram menor risco relativo. Paralelamente, o risco relativo de IA leve aumenta segundo a classe socioeconômica, principalmente entre os domicílios da classe C.
Fica evidenciado na tabela 5 que em domicílios com IA é maior a chance do consumo diário da AE. Quanto ao comportamento alimentar, entre os estudantes que indicaram não levar alimentos de casa para a escola o risco relativo de IA leve foi maior, bem como não consumir café da manhã esteve associado com maior chance de IA moderada e grave. Já o consumo de alimentos indicou que não consumir feijão, frutas frescas e verduras e legumes aumenta a chance de IA moderada e grave, ao mesmo tempo que o não consumo de refrigerante aumentou o risco relativo de IA leve.
Discussão
Aproximadamente metade dos estudantes residia em domicílios em situação de insegurança alimentar e nutricional, e cerca de cerca de 20% encontra-se em domicílios com a presença de IA moderada e grave, ou seja, quando ocorre a restrição qualitativa e quantitativa de acesso à alimentos, em situação de fome. Assim, a alimentação escolar pode ser a principal refeição destes estudantes. Os fatores socioeconômicos que se associaram com a IA no presente trabalho, mostram a importância do PNAE frente as desigualdades sociais cada vez mais agravadas no país, uma vez que o programa atende de forma universal aos estudantes do ensino básico.
Em comparação com os dados de IA da população brasileira (58,7%), o nível de IA encontrado nesta pesquisa foi mais baixo (49,86%). No entanto, a IA leve que acomete a qualidade do que é consumido na residência, bem como existe uma incerteza quanto à possibilidade da ingestão de alimentos, foi maior no presente estudo (30,6%), frente as prevalências encontradas para o país (28%), para a região sudeste (27,2%) e para o estado de São Paulo (28,5%), onde residem os estudantes. Tal situação de IA se agravou no país com a piora das condições econômicas, por conta dos desmontes das políticas públicas e a pandemia de COVID-19 ocorridos nos últimos anos 3,4,25,26.
Quando verificadas as variáveis sociodemográficas e sua relação com a SAN, verificou-se que entre os estudantes do EJA a prevalência de IA foi maior, quando comparada com as demais modalidades de ensino, apesar do número de estudantes respondentes desta categoria ser baixo. No país o número de matrículas desta modalidade de ensino vem diminuindo desde 2018, além disso, dados do censo de 2023 também demonstram que a maior parte destes estudantes se declaram pretos e pardos, bem como o fato de não terem concluído o ensino em tempo regular, faz com que as condições de emprego e renda desta população sejam piores, situações que também vem sendo associadas com a maior prevalência de IA 3,4,27.
Outro fator associado com a IA foi o fato de a família receber auxílio de algum programa social e de permanência estudantil, bem como ser de classe socioeconômica mais baixa. Programas de transferência de renda apresentaram relação com a melhoria da SAN nos domicílios que os recebem, sendo a renda familiar uma variável com relação inversa com a IA 28,29.
No presente estudo, os domicílios em IA moderada e grave apresentaram maior percentual de respondentes pretos e pardos e que indicaram que o grau de escolaridade do pai e da mãe era analfabeto ou ensino fundamental incompleto. Em estudo que verificou a IA no Brasil pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio entre 2004 e 2013, observou-se que as variáveis associadas à IA permaneceram as mesmas desde o início da pesquisa e dentre estas, encontra-se ser da raça/cor não branca e possuir menos de 4 anos de escolaridade 30.
Além disso, a presença de crianças e adolescentes no domicílio também se relacionaram com a IA. A nível nacional esta associação também foi verificada, sendo relacionada a maior risco de atraso no crescimento e baixo peso entre crianças e adolescentes residentes nestes domicílios, bem como o absenteísmo escolar, fatores que podem ser melhorados com o desenvolvimento socioeconômico familiar, evidenciando a determinação social da IA no Brasil e no mundo 3,4,6,28,31.
Sendo a AE um fator que pode amenizar as condições de IA no domicílio, o consumo destas refeições se torna importante. Neste estudo a adesão a AE pelo menos uma vez por semana por parte dos estudantes foi maior (79,2%) do que a encontrada em estudos com estudantes do ensino fundamental e médio, que variou entre 57,7% e 70,9% 13,32,33. Estudos apontam que fatores como a idade, sexo, consumo de alimentos competitivos à AE, presença de cantina na instituição, o fato do adolescente se alimentar antes de ir para a escola, tamanho da escola, bem como situação socioeconômica da família possuem associação com o consumo da alimentação ofertada pela instituição de ensino 33,34,35.
Ademais, a relação entre a SAN e a adesão diária à AE foi verificada em todos os níveis de IA, demonstrando a importância do consumo destes alimentos em famílias nesta situação. Neste sentido, um estudo de revisão sistemática encontrou que alguns trabalhos verificaram a associação entre SAN em estudantes que recebiam alimentação escolar universal e gratuita, indicando associação positiva. Nestes casos, como a alimentação é gratuita a família consegue aumentar o seu poder de compra por não ter de gastar com estes alimentos, podendo utilizar em outros investimentos alimentares e, consequentemente, aumentando a SAN na residência 36.
Outrossim, em pesquisa realizada nos Estados Unidos, foi verificada a associação entre a participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar e Café da Manhã Escolar e a IA. O estudo indicou a importância do papel da alimentação escolar na satisfação das necessidades energéticas e da qualidade da dieta para os estudantes em IA 14.
No entanto, estudo nacionais que realizaram essa associação são escassos. Estudo realizado com estudantes do ensino fundamental encontrou relação entre SAN e o consumo da AE, mostrando que o PNAE possui elevada importância na contribuição da alimentação dos estudantes, no entanto devido a SAN ser multifatorial, necessita de outras políticas públicas para sua garantia 13.
Já quanto ao consumo e comportamento alimentar dos estudantes, o fato de não realizar o café da manhã e não consumir alimentos marcadores de uma alimentação saudável (feijão, frutas, verduras e legumes), indicam as consequências geradas pela IA, uma vez que esta se relaciona tanto com a qualidade, quanto com a quantidade de alimentos disponíveis nos domicílios 1,3.
Estudo realizado em Belo Horizonte, verificou que a IA afetou negativamente a ingestão de frutas e vegetais, bem como o consumo de feijões foi maior entre as famílias que indicaram ter adolescentes na residência, quando comparado aos domicílios em segurança alimentar, além disso que o consumo de ultraprocessados não apresentou alteração entre as famílias em IA, o que difere dos nossos achados, em que não consumir refrigerante esteve associado ao maior risco de IA leve, indicando uma alteração no consumo habitual de alimentos pela família 37.
Dentre as limitações do estudo, destaca-se o fato da pesquisa ter sido realizada diretamente com os estudantes, que pode ser um possível fator de sub ou superestimação das prevalências encontradas, uma vez que a maior parte se encontrava matriculada no ensino médio e podem não ser os responsáveis pela alimentação na residência. No entanto, estudos realizados diretamente com adolescentes vêm indicando que estes possuem capacidade e autonomia para participar deste tipo de abordagem 18,38,39,40. Além disso, a aplicação do questionário se deu no formato online, o que poderia ser um fator de restrição dos participantes sem acesso à internet, contudo os campi do IFSP contam com dispositivos com acesso à internet disponíveis aos seus estudantes, possibilitando assim, a participação de todos os interessados. Por fim, por conta do convite para participação de todos os estudantes do ensino básico, a colaboração dos estudantes ocorreu por livre demanda, ocorrendo assim um número diferente de participantes por campus, fazendo com que a amostra possa não representar necessariamente a população do estudo, no entanto, para redução do viés, foi garantida a participação de estudantes de todos os campi em funcionamento do IFSP.
Conclusão
A oferta e a adesão da AE pelos estudantes apresentaram relação com a IA. Sendo a alimentação na escola uma fonte de consumo de alimentos saudáveis, esta propicia um melhor aporte nutritivo, principalmente para os estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Além disso, também houve a diferença da prevalência de IA entre as diferentes modalidades de ensino e situação socioeconômica familiar.
A relevância do estudo está na caracterização da situação de SAN, consumo e hábito alimentar entre estudantes do ensino médio, técnico e EJA, população beneficiada por uma das maiores políticas sociais do Brasil, porém que é pouco contemplada nas avaliações do PNAE. Assim, demonstramos a necessidade de estudos envolvendo a alimentação escolar que contemplem discentes de todas as esferas e modalidades de ensino, para que as políticas públicas e institucionais possam ser melhor direcionadas e tenham equidade em suas ações.
Referências
1. Kepple AW & Segall-Corrêa AM. Conceituando e medindo segurança alimentar e nutricional. Ciência & Saúde Coletiva 2011; 16(1): 187–99.
2. Brasil. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm (acessado em 07 de março de 2024).
3. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Instituto Vox Populi, São Paulo; 2022.
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017/2018: Análise da segurança alimentar no Brasil. São Paulo, Brasil: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2020.
5. Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food insecurity is associated with chronic disease among low-income NHANES participants. J Nutr 2010; 140:304–10.
6. Tamiru D, Argaw A, Gerbaba M, Ayana G, Nigussie A, Belachew T. Household food insecurity and its association with school absenteeism among primary school adolescents in Jimma zone, Ethiopia. BMC Public Health 2016; 16:802.
7. Brasil. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm (acessado em 07 de março de 2024).
8. Peixinho AM. A trajetória do Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de 2003-2010: relato do gestor nacional. Ciência & Saúde Coletiva 2013; 18(4): 909-16.
9. Drake L, Woolnough A, Burbano C, Bundy D. Global school feeding sourcebook lessons from 14 countries. World Food Programme, Italy. New Jersey : Imperial College Press; 2016.
10. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação [Internet]. Dados Físicos e Financeiros do PNAE. https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/consultas/pnae-dados-fisicos-e-financeiros-do-pnae (acessado em 07 de março de 2024).
11. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 06, de 08 de maio de 2020. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
12. Froner M & Pretto N. A insegurança alimentar entre as crianças brasileiras. Nexo Jornal. 19 de outubro de 2022. https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/10/19/a-inseguranca-alimentar-entre-as-criancas-brasileiras (acessado em 07 de março de 2024).
13. de Amorim ALB, Dalio SR, Ribeiro Junior JRS, Canella DS, Bandoni DH. The contribution of school meals to food security among households with children and adolescents in Brazil. Nutrition 2022; 93:111502.
14. Forrestal S, Potamites E, Guthrie J, Paxton N. Associations among Food Security, School Meal Participation, and Students’ Diet Quality in the First School Nutrition and Meal Cost Study. Nutrients 2021; 13(2):307.
15. dos Santos CCD, Rodrigues EC, Camargo PP, Justiniano ICS, de Carvalho NC, de Menezes MC, Meireles AL, Mendonça RD. Disponibilidade, acesso percebido e insegurança alimentar em domicílios de escolares de dois municípios de Minas Gerais na pandemia de COVID-19. Segurança Alimentar e Nutricional 2023; 30:e023014.
16. Rodrigues AM, Santos EC, Faria TP, Faria AL, Chamon EMQO. Segurança alimentar de famílias com pré-escolares da zona rural de um município do Vale do Paraíba paulista. Demetra 2020; 15:e42451.
17. Andrade MEC, Lyra CO, Araújo FR, Bagni UV. Influence of federal feeding programs on the anthropometric indicators of nutritional status of adolescents. Revista De Nutrição 2022; 35:e210046.
18. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde do escolar: 2019 / IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. – Rio de Janeiro, 162 p.; 2021.
19. Vale D, Santos TT, Dantas RF, Cabral NLA, Lyra CO, Oliveira AGRC. Determinantes sociais em saúde associados à vivência da fome entre adolescentes do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva 2022; 27(7):2895–909.
20. Interlenghi GS, Reichenhein ME, Segall-Corrêa AM, Pérez-Escamilla R, Moraes CL, Salles-Costa R. Suitability of the eight-item version of the Brazilian Household Food Insecurity Measurement Scale to identify risk groups: evidence from a nationwide representative sample. Public Health Nutrition 2018; 22(5): 776–84.
21. Segall-Correa AM, Marin-Leon L, Melgar-Quinonez H, Pérez-Escamilla R. Refinement of the Brazilian Household Food Insecurity Measurement Scale: Recommendation for a 14-item EBIA. Revista de Nutrição 2014; 27:241–51.
22. Morais DC, Lopes SO, Priore SE. Indicadores de avaliação da Insegurança Alimentar e Nutricional e fatores associados: revisão sistemática. Ciência & saúde coletiva 2020; 25(7): 2687-700.
23. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Alterações na aplicação do Critério Brasil. [Internet]. 2022. https://www.abep.org/criterio-brasil (acessado em 08 de março de 2024).
24. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica [Internet]. 2015. https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTMyMw== (acessado em 08 de março de 2024).
25. de Sousa LRM, Segall-Corrêa AM, Ville A Saint, Melgar-Quiñonez H. Food security status in times of financial and political crisis in Brazil. Cad Saude Publica 2019;35(1):13.
26. Oliveira TC, Abranches MV, Lana RM. Food (in)security in Brazil in the context of the SARS-CoV-2 pandemic. Cad Saude Publica 2020;36.
27. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo Escolar 2023. Divulgação dos resultados [Internet]. 2023. https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2023/apresentacao_coletiva.pdf (acessado em 19 de março de 2024).
28. Bezerra TA, Olinda RA de, Pedraza DF. Insegurança alimentar no Brasil segundo diferentes cenários sociodemográficos. Ciência & Saúde Coletiva 2017; 22(2):637–51.
29. Correia LL, Rocha HAL, Leite ÁJM, Cavalcante e Silva A, Campos JS, Machado MMT, et al.. The relation of cash transfer programs and food insecurity among families with preschool children living in semiarid climates in Brazil. Cad saúde colet 2018; 26(1):53–62.
30. dos Santos TG, da Silveira JAC, Longo-Silva G, Ramires EKNM, de Menezes RCE. Tendência e fatores associados à insegurança alimentar no Brasil: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004, 2009 e 2013. Cad. Saúde Pública 2018; 34(4):e00066917.
31. Moradi S, Mirzababaei A, Mohammadi H, Moosavian SP, Arab A, Jannat B, Mirzaei K. Food insecurity and the risk of undernutrition complications among children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Nutrition 2019; 62: 52-60.
32. Valentim EA, de Almeida CCB, Taconeli CA, Osório MM, Schmidt ST. Fatores associados à adesão à alimentação escolar por adolescentes de escolas públicas estaduais de Colombo, Paraná, Brasil. Cad. Saúde Pública 2017; 33(10):e00061016.
33. Cesar JT, Taconeli CA, Osório MM, Schmidt ST. Adesão à alimentação escolar e fatores associados em adolescentes de escolas públicas na região Sul do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva 2020; 25(3):977–88.
34. Honório OS, Rocha LL, Fortes MICM, do Carmo AS, Cunha CF, de Oliveira TRPR, Mendes LL. Consumption of school meals provided by PNAE among brazilian public school adolescentes. Rev Chil Nutr 2020; 47(5 ): 765-71.
35. Vale D, Lyra CO, dos Santos TT, de Souza CVS, Roncalli AG. Adesão à alimentação escolar por adolescentes brasileiros: determinantes individuais e do contexto escolar. Ciência & Saúde Coletiva 2021; 26(2):637–50.
36. Cohen JFW, Hecht AA, McLoughlin GM, Turner L, Shwartz MB. Universal School Meals and Associations with Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. Nutrients 2021, 13, 911.
37. de Araújo ML, Mendonça RD, Lopes Filho JD, Lopes ACS. Association between food insecurity and food intake. Nutrition 2018.
38. Gariglia F, Bento SF, Hardy E. Adolescentes como voluntários de pesquisa e consentimento livre e esclarecido: conhecimento e opinião de pesquisadores e jovens. Cad. Saúde Pública 2006; 22(1):53-62.
39. Niemeier J. & Fitzpatrick K.M., Examining food insecurity among high school students: A risks and resources model. Appetite 2019.
40. Serenini M, Vieira KC, Souza CM, Poblacion A, Toloni MHA, Taddei JAAC. A insegurança alimentar pela voz de adolescentes participantes do Programa Bolsa Família. R. bras. Est. Pop. 2023; 40(e0242): 1-22.