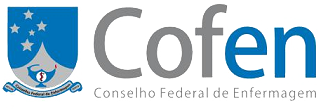0151/2025 - A dramaturgia de uma emergência sanitária: as temporalidades vividas por mulheres na epidemia de zika no Brasil
A dramaturgia de uma emergência sanitária: as temporalidades vividas por mulheres na epidemia de zika no Brasil
Autor:
• Debora Diniz - Diniz, D - <d.diniz.debora@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6987-2569
Coautor(es):
• Luciana Brito - Brito, L - Brasília, - <l.brito@anis.org.br, luciana.sb@gmail.com>ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8752-2386
• Arbel Griner - Griner, A - <agriner@princeton.edu; arbelgriner@gmail.com>
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7641-3686
• Patricia Kingori - Kingori, P - <patricia.kingori@ethox.ox.ac.uk>
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5420-2183
Resumo:
O calendário oficial de uma emergência sanitária impacta as populações afetadas, em particular os marcos temporais de início, pico, fim e depois do fim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a epidemia do vírus zika foi uma emergência de saúde pública entre fevereiro e novembro de 2016, cujo fim resultou na classificação da doença como uma arbovirose endêmica em diversos países do sul global. Neste artigo, analisamos a cronologia da epidemia para três mulheres afetadas pelo vírus zika em Alagoas, Brasil, cuja gravidez ocorreu no tempo do início da emergência sanitária e cujos filhos faleceram entre dois e quatro anos após o decreto de fim da epidemia. O enfoque na experiência vivida das três mulheres complexifica a dramaturgia linear do tempo nas emergências sanitárias. Esperamos demonstrar como o calendário epidêmico é um artefato para a construção de subjetividades políticas, mas não conforma a experiência vivida das mulheres, em particular o vivido depois do decreto de fim de uma emergência sanitária.Palavras-chave:
epidemia zika; emergências sanitárias; mulheres; temporalidades; Brasil.Abstract:
The official calendar of a health emergency has a direct impact on affected populations, particularly at the times of beginning, peak, end, and after the end. According to the World Health Organization, the Zika virus epidemic was a public health emergency between February and November 2016. The disease is now classified as an endemic arbovirus in several countries in the Global South. In this article, we analyze the chronology of the epidemic for three women affected by Zika in Alagoas, Brazil, who became pregnant at the beginning of the health emergency and whose children died between two and four years after the end of the epidemic. Our focus on the lived experience of these three women complexifies the linear dramaturgy of time in health emergencies. We aim to demonstrate how the health emergency calendar is an artifact that shapes political subjectivities, but also how it simplifies the lived experience of affected women, particularly in the times after the end.Keywords:
Zika epidemic; health emergencies; women; temporalities; Brazil.Conteúdo:
Em fevereiro de 2016, o vírus zika foi considerado como uma emergência global à saúde de mulheres em idade reprodutiva. A emergência foi decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as atenções se voltaram para mulheres de uma região pouco conhecida da cena internacional –o interior do nordeste brasileiro, um território extenso onde o Brasil colonial se formou pelas plantações de açúcar, pela escravização de pessoas de ascendência africana e indígena. Foi ali, onde o Brasil é mais desigual, que se fez o epicentro mundial da epidemia do zika por nove meses para a OMS; por dezoito meses para o Ministério da Saúde do Brasil; e por uma cronologia corporificada no vivido para as mulheres infectadas por uma doença tropical da vida cotidiana, cujos filhos nasceram com a síndrome congênita do zika.
O vírus zika era desconhecido no Brasil, mas somou-se à imensa e diversa população local de arbovírus. Nas terras do epicentro do zika estava também a dengue, a febre amarela e o chikungunya. No segundo semestre de 2015, parecia que as mulheres adoeciam de mais uma virose ou de uma alergia, pois tinham manchas pela pele e um breve mal-estar. Algumas delas sequer noticiaram qualquer adoecimento na gravidez. Eram corpos experientes em doenças tropicais e acostumados ao mosquito como um habitante comum ao espaço cotidiano.1 A surpresa foram os recém-nascidos de cabeça pequena, inicialmente descritos como eventos de microcefalia fetal e, após extensa investigação científica, como de síndrome congênita do zika. Até então de risco desconhecido pela biomedicina, o zika também se transmite verticalmente da pessoa grávida para o feto ou por relações sexuais com parceiros infectados pelo vírus.2
Uma emergência sanitária é narrada como tendo marcos temporais de início, pico e fim. A cronologia é imaginada, como descreveu Charles Rosenberg, em uma “dramaturgia” por quem tem a autoridade de determinar o tempo das emergências –no Brasil, o Ministério da Saúde e, globalmente, a OMS.3 O tempo do início é marcado pela magnitude do impacto populacional, seja pela novidade da doença, pelo risco de letalidade ou de transmissibilidade. O tempo do início anuncia também um senso de urgência para as respostas, seja para evitar a propagação da doença, para cuidar das pessoas doentes ou buscar soluções, como pesquisas, vacinas ou tratamentos. Alguns autores já lançaram críticas sobre o tempo linear da dramaturgia.4,5,6 Há emergências sanitárias cujo início foi decretado tardiamente, como foi o caso do covid-19, e outras que tiveram tanto seu decreto de início atrasado quanto o de fim contestado, como foi o caso do ebola.7,8,9
Com o anúncio do fim da epidemia do zika pela OMS, a dramaturgia perdeu a atração imagética dos gráficos com números de mulheres infectadas e das fotografias de crianças de cabeça miúda. Os boletins de monitoramento da situação epidemiológica de infecção por zika ou de casos suspeitos da síndrome congênita do zika no país tornaram-se rarefeitos –dados antes publicizados semanalmente ou mensalmente são, agora, compilações semestrais ou quase anuais. Em termos epidemiológicos, o zika converteu-se em uma doença endêmica em um país repleto de arboviroses que afligem as mulheres em idade reprodutiva.10,11
Entre 2015 e 2023 mais de 22 mil crianças foram notificadas para a síndrome congênita do vírus zika; dessas, 3.742 foram confirmadas e 2.877 continuam em investigação. Os demais casos são considerados inconclusivos, descartados ou excluídos.12 Em 2024, 539 casos foram notificados como suspeitos, sendo 12 com diagnóstico laboratorial positivo para o zika. Em 2024, foram notificadas mais de 11 mil mulheres em idade reprodutiva como infectadas pelo vírus zika.13 Conformou-se, assim, um tempo de continuidade silenciosa, o que a biomedicina descreve como a realidade de “doenças negligenciadas".14 Além disso, novos calendários de emergências sanitárias foram anunciados e a pandemia de covid-19 tornou-se a dramaturgia do mundo. Zika passou a ser uma doença aflitiva para mulheres de um território distante ou de um passado anterior dos calendários de saúde global.
A epidemia de zika passou a ter temporalidades conflitantes para as mulheres e para as políticas de saúde: uma mulher adoecida de zika na gravidez foi um evento biopolítico caso a criança tenha sido afetada, em particular se apresentasse sinais de microcefalia ao nascer. Caso contrário, o incidente de adoecimento da mulher grávida passou como irrelevante para o calendário epidêmico, como parecem ter sido os casos de mulheres infectadas pelo vírus zika com perda gestacional (ou os que agora se repetem com o vírus oropouche), cujas histórias desapareceram da cronologia da epidemia. Sem as crianças afetadas, a doença das mulheres foi um incidente sem resposta no calendário epidêmico, o que demonstra a dificuldade de contar a história da epidemia de zika desde a perspectiva do tempo vivido pelas mulheres, e não apenas do tempo das mulheres entrelaçado à vida de seus filhos afetados.
Nossa equipe de pesquisa etnografa o vivido por centenas de mulheres desde um tempo anterior ao decreto de início da emergência em Alagoas e que se estende ao tempo posterior ao fim do calendário oficial da epidemia do zika no Brasil.15 Neste artigo, apresentamos as temporalidades vividas por três mulheres cujos filhos, nascidos no pico do calendário oficial, faleceram entre dois e quatro anos após decretado o fim da epidemia. Buscamos compreender como as temporalidades da maternagem e da política se entrelaçam ao da “dramaturgia” das emergências. Tomamos a experiência do luto como evento comum que ancora o fim do tempo do cuidado.
Metodologia e ética
Em 2016, antes mesmo de o governo brasileiro mapear a extensão da epidemia no Brasil, nossa equipe de pesquisa percorreu o estado de Alagoas em busca de mulheres e recém-nascidos afetados pelo vírus zika. Entrevistamos cinquenta e quatro mulheres em suas próprias casas, e desse mapa iniciamos um trabalho nacional e local para apoiar a criação de associações de famílias e publicamos recomendações para a elaboração de políticas públicas de proteção às mulheres e às crianças.16 Trabalhamos para a fundação das associações nos estados de Alagoas e do Rio de Janeiro e, desde então, mantivemos um vínculo permanente de convivência com as mulheres e suas famílias.
O trabalho etnográfico se misturou ao de incidência por direitos em Alagoas –com a Associação Famílias de Anjos (AFAEAL), atuamos em parceria com órgãos do poder judiciário, como a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual, para o acesso aos serviços de saúde especializados ou permanentes, como home care; e para o acesso a benefícios sociais, como os de transferência de renda e garantia de habitação. Em Alagoas, trinta e duas mulheres mudaram-se para residir como vizinhas em complexos habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida (resultado da atuação política da Associação), em um experimento comunitário, político e afetivo de criação de novas zonas de convivência durante a pandemia de covid-19. Duas das três mulheres deste artigo residem na mesma comunidade.
A AFAEAL conta com duzentas e setenta e oito famílias cadastradas com crianças com a síndrome congênita de zika. Destas, quatorze nasceram após o decreto de fim da epidemia pela OMS e, do total de crianças da Associação, doze faleceram. Com a quase totalidade das famílias já realizamos visitas domésticas, convivemos em atividades festivas, participamos de eventos públicos ou de ações de incidência para a defesa de direitos. Montamos um vasto arquivo de entrevistas, documentos, processos judiciais e dossiês médicos, fotografias e filmes. Para este artigo, realizamos visitas domésticas e conversas online via WhatsApp para explorar os tempos desde a gravidez até depois do falecimento dos filhos e da filha. As transcrições foram revisadas pelas mulheres, o que propiciou novas interlocuções. As conversas foram realizadas individualmente e, em dois casos, participaram de algumas interações os companheiros, que eram também os pais das crianças falecidas. Suas narrativas foram complementares às das mulheres, porém não foram material de análise para este artigo.
O acompanhamento etnográfico foi atravessado por eventos disruptivos, como longas hospitalizações das crianças, a pandemia de covid-19 ou o luto pela perda da criança. Nossa presença caracterizou-se como um acompanhamento de testemunho.17,18 Uma das autoras deste artigo é psicóloga clínica, e nos incidentes sugestivos de sofrimento mental, respostas imediatas de cuidado foram oferecidas e as mulheres encaminhadas para assistência em saúde mental de longa permanência. Acreditamos que a longa duração dos vínculos de confiança e pertencimento entre nossa equipe de pesquisa e as mulheres permitiu que o acompanhamento fosse parte de uma convivência autorizada e cultivada por ambas as partes. Como disse Ana Carla, uma das três mulheres cuja história é contada neste artigo, “o testemunho de vocês é como uma memória do que vivi com Mikael e com outras mulheres da Associação”.
Nas pesquisas qualitativas, a anonimização das pessoas participantes é uma forma de proteção contra estigmas ou efeitos adversos. Acreditamos que o cuidado à intimidade e o respeito à autoimagem devem ser balizadores da pesquisa e da escrita etnográficas. No entanto, como já discutimos em outros contextos, nem todas as pesquisas etnográficas presumem que anonimizar é proteger; há casos em que não nomear é desaparecer a experiência vivida das pessoas.19 Em comum acordo com as mulheres, este artigo as apresenta em nome e imagem: com elas selecionamos as fotografias, e elas foram as primeiras a revisar o texto e com quem discutimos nossos argumentos. O enquadramento das fotografias foi também acordado com cada mulher individualmente e com todas coletivamente. Juntas, realizamos correções de fatos, memórias e perspectivas. A responsabilidade argumentativa é integralmente das autoras.
A pesquisa foi revisada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas, da Universidade de Brasília, aprovada sob o número CAAE: 63604016.4.0000.5540. Em termos metodológicos, no marco da pesquisa etnográfica de longa duração, acompanhamos as vivências sobre o tempo vivido desde o adoecimento da mulher por zika até o tempo presente. Nosso lugar foi o de escuta, e as mulheres foram contadoras de suas próprias histórias, sendo rara a interação no formato de perguntas roteirizadas. Nesses anos de trabalho de campo, houve diferentes formatos de termos de consentimento livre e esclarecido e de cessão de imagens. Para este artigo, foram assinados termos de cessão de imagens, de aprovação deste artigo e das fotografias.
As três mulheres são Ana Carla da Silva, Dayane Alves e Cleidiane Cavalcante. Em comum, são nordestinas, negras, jovens, e interromperam os estudos ou o trabalho precarizado e mal remunerado para cuidar integralmente de seus filhos, sendo beneficiárias de programas de transferência de renda, habitação e usuárias do sistema público de saúde. Com elas, acordamos que uma crônica apresentaria a cronologia do adoecimento por zika até depois da morte dos filhos e da filha. A escrita no formato de crônica foi participativa e é uma tentativa de representação etnográfica feminista, em que escrevemos sobre e com as mulheres.20 Ao escrever sobre o vivido pelas mulheres, usamos os tempos verbais com que cada uma descreveu a maternidade do filho falecido. Algumas mulheres apresentam-se no tempo presente como “sou mãe”, outras como “fui mãe”; ou “tenho dois filhos" ou “tive uma filha e não tenho mais filhos". Na seção “Os calendários”, perseguimos o entrelaçamento da dramaturgia do tempo vivido utilizando as categorias “Incidentes”, “Interpretações”, “Respostas” e “Depois do fim”. Para isso, retornamos aos elementos da crônica e acrescentamos outros fragmentos das conversas sobre tempos e cronologias, indicando a voz de cada mulher.
As três mulheres e as crianças
Ana Carla é casada com Paulo Henrique, mãe de Miquéias Henrique, 13 anos, e de Mikael, falecido aos 6 anos. Ela tinha 22 anos quando adoeceu no terceiro mês de gravidez. As manchas vermelhas cobriram o corpo e arderam à noite com o calor. “Tive manchas em cada canto da pele, menos na cabeça”, uma topografia ao revés do que viria ser a da síndrome congênita de zika em seu filho Mikael: nela, a doença foi rápida e superficial no corpo; nele, eterna e profunda, marcada pelas manchas brancas no cérebro reduzido “a uma lâmina”. Pelas manchas na pele, Ana Carla foi duas vezes ao médico que receitou pomada para alergia e para tratar o que se diagnosticou como uma sarna. As manchas duraram três dias. Já com gravidez avançada, as notícias na televisão começaram a mostrar crianças de cabeça pequena e histórias de mulheres adoecidas com manchas no corpo. Zika era uma doença nova para quem nasceu e viveu rodeada de mosquitos num sítio de assentamento rural no litoral norte de Alagoas. Na última das três ecografias que realizou aos oito meses de gravidez, o médico silenciou ao posicionar a máquina na cabeça do feto. Ana Carla e o marido não sabem o que o médico visualizou. O laudo não fez menção à microcefalia da criança. Ao nascer, Mikael foi imediatamente encaminhado para a UTI. A equipe de saúde recomendava que Ana Carla “não se apegasse ao filho", pois as chances de sobrevivência eram reduzidas. Enquanto viveu, Mikael foi mantido em cuidados intensivos em home care ou no hospital, e a família rejeitava quem “dava tempo de vida ao filho". De Mikael, a família guarda muitas coisas, mas a toquinha que foi usada na última internação tem significado especial, “inclusive com o cheirinho dele”. Ana Carla deu à luz a Mikael em 6 de fevereiro de 2016 e o sepultou em 5 de fevereiro de 2022.
Dayane é mãe de Maria Cecília, 4 anos, e de Emerson, falecido aos 2 anos. Ela tinha 18 anos quando o marido adoeceu de zika no terceiro mês de gravidez. Com pouca informação disponível, Dayane foi informada da importância do uso do repelente durante a gestação, mas desconhecia o contágio por transmissão sexual. Ela não teve sintomas de zika, e nenhuma das ecografias do pré-natal mostraram qualquer alteração no feto. Quando Emerson nasceu, "ele só tinha a cabeça pequena". Na favela urbana onde ainda vive, em Maceió, a capital de Alagoas, não houve outro caso de zika nem de outras “crianças especiais”, o que gerou muita curiosidade da comunidade. Com a morte de Emerson, Dayane engravidou novamente durante a pandemia de covid-19, apesar dos conselhos da família e dos vizinhos sobre o risco de um novo filho vir a ser afetado pelo zika ou pelo novo vírus. Era como se a gênese de Emerson marcada pelo zika fosse se atualizar a cada nova gestação ou a cada nova emergência de saúde pública. Os médicos não ofereciam respostas às inquietações de Dayane, diziam conhecer pouco sobre os efeitos da transmissão sexual de zika e o tempo de permanência no corpo. A incerteza sobre uma nova gravidez fez com que Dayane tivesse dificuldades de se relacionar com a filha após o parto e a separação do companheiro. Dayane é a única das três mulheres que é mãe sozinha e não vive no conjunto residencial, apesar de ainda ser ativa no grupo de WhatsApp de mulheres da Associação. De Emerson, ela guarda a roupa da maternidade. Dayane deu à luz a Emerson em 8 de dezembro de 2016 e o sepultou em 28 de maio de 2019.
Cleidiane é casada com Eder, foi mãe de Katlyn, falecida aos 6 anos. Não tem outros filhos, e deseja engravidar. Ela tinha 19 anos quando adoeceu nos primeiros meses da gravidez. Teve manchas vermelhas no corpo e “nem sabia que estava grávida”, apesar do atraso menstrual de mais de três meses. Em um exame de ultrassom, ouviu da médica que “o corpinho não estava batendo com o tamanho do cérebro”, pois a cabeça do feto era muito menor que o esperado para os quase seis meses de gestação. Na mesma consulta em que recebeu o diagnóstico de microcefalia, também descobriu que a filha seria uma menina. Foi ainda durante a gravidez que recebeu a referência de um centro especializado em reabilitação. O diagnóstico a entristeceu, pensou em encaminhar a menina para adoção. Katlyn nasceu prematura, era tão miúda que “cabia numa caixinha de sapato”. Olhar a menina transformou os afetos que sentia, “ela era um pedaço meu. Eu ia cuidar e dei muito amor”. A primeira conversa com Cleidiane foi logo após o parto, o que a deixava fragilizada para a participação em pesquisa, tendo sido seu marido o principal interlocutor. Em conversas posteriores, ela foi a narradora de sua história e da de Katlyn. Para ela, a morte da filha foi o fim de um ciclo de amor e de cuidado, por isso insiste em dizer que “prefiro não sonhar com ela"; “Houve um fim com a morte e não quero ter lembranças". A maternidade é uma experiência do passado, “fui mãe um dia, mas hoje não tenho filhos”. De Katlyn, ela diz não guardar nada, a fotografia é dela com o pai da criança. Cleidiane deu à luz a Katlyn em 21 de fevereiro de 2016 e a sepultou em 15 de agosto de 2022.
Os calendários
Incidentes
Na dramaturgia de Rosenberg, “a textura peculiar de qualquer epidemia reflete a interação contínua entre incidente, percepção, interpretação e resposta”.3 As manchas na pele de Ana Carla e Cleidiane, uma doença de topografia superficial e ordinária nos corpos, foram incidentes considerados irrelevantes pelos serviços de saúde e, após o desaparecimento dos sintomas, foram também ignorados pelas mulheres. O incidente ganhou nova percepção com o nascimento das crianças com microcefalia e a interpretação biomédica da causalidade da transmissão vertical.22 Mas se incidente, percepção e interpretação rearranjaram o tempo do início no vivido –o nascimento da criança como evento causal dos riscos de zika na gravidez–, as mulheres não fizeram desta cronologia linear e retroativa a única forma de situar suas vivências no tempo.
O calendário epidêmico coincidiu com o tempo do adoecimento das mulheres em uma perspectiva histórica, mas não com a experiência vivida. As três mulheres adoeceram nos meses iniciais da epidemia, segundo a OMS, ou no prólogo do anúncio de início. É somente numa perspectiva retroativa e política, para a garantia de direitos, que as mulheres se reconhecem como “adoecidas de zika” no tempo do início. Para elas, o início da aflição epidêmica é o exame ultrassonográfico, como foi para Cleidiane, ou o parto, quando passam a ser descritas como mães de uma “criança especial". Quando as causalidades são reconstituídas, os calendários se entrelaçam e os corpos das mulheres e das crianças passam a ser interpretados pela ciência de zika como uma matéria única de análise.23
Mesmo com a declaração da emergência global marcando o tempo do início, havia uma normalização dos corpos já habituados a afligir-se por mosquitos ou doenças tropicais: seriam como incidentes ordinários à vida naquela geografia ambiental, racial e de classe. As três mulheres não receberam o diagnóstico de zika na gravidez; zika era uma doença das notícias, não imaginada no próprio corpo. Elas viveram os meses da gravidez no que foi descrito como o pico da dramaturgia da epidemia no Brasil, e nem mesmo com imagens ecográficas sugestivas de microcefalia fetal, como aconteceu com Ana Carla e Cleidiane, a hipótese de zika foi considerada pelos médicos.
Uma estética aflitiva tensionou o que foi a doença nos corpos das mulheres e a manifestação na gênese das crianças: para as primeiras, foi uma topografia rápida e aguda; para as crianças, uma cicatriz duradoura, crônica e profunda. Somente com a sobreposição de tempos para a construção da “história clínica” do recém-nascido é que a doença ordinária da gravidez foi ressignificada como zika: as três mulheres viveram suas aflições como viroses sem nome, doenças de pele ou intercorrências da gravidez. É a gênese da criança atravessada pela “síndrome congênita do zika” que demarca a criação de um tempo contínuo para as três mulheres: o da clínica da maternidade que faz a criança sobreviver, indiferente às incertezas ou ao pessimismo da ciência.
Interpretações
O evento percebido pelo marido de Ana Carla em que o médico teria evitado exibir a cabeça de Mikael na tela ecográfica é sugestivo de um conflito discursivo que acompanhou o pico da emergência sanitária. Houve excesso de circulação pública de imagens e narrativas, porém uma contenção discursiva na clínica do cuidado às mulheres –é como se as incertezas científicas sobre os efeitos do vírus zika impedissem o acolhimento de necessidades comuns das mulheres na gravidez e no puerpério. Ana Carla somente foi conhecer Mikael com três dias de nascido e foi proibida de amamentá-lo; Dayane saiu da maternidade sem informações sobre os significados da microcefalia de Emerson; Cleidiane viveu um sofrimento mental agudo após o parto. Em contraste à intensidade pública da comunicação, as três mulheres enfrentaram a suspensão da palavra e do tempo futuro pelas equipes de saúde. Ada d’Adamo, em um romance biográfico sobre a maternidade de uma criança com múltiplas deficiências e extrema dependência, descreve a norma do silêncio como “a grande fuga”.24
Dayane estava grávida da segunda filha quando os números de morte materna por covid-19 assolaram o Brasil: suas duas gestações acompanharam os calendários das emergências sanitárias do país. A morte de Emerson não significou o “fim” do tempo de zika, pois a incerteza sobre a temporalidade do zika por transmissão sexual se instalou para Dayane: além dos riscos de covid-19 para as mulheres grávidas, ela rejeitava as certezas sobre os tempos descritas pela biomedicina. Os médicos informaram sobre a janela de “seis meses" de risco após o adoecimento do marido, porém ela desacreditava de tamanha precisão temporal para um vírus que até recentemente era desconhecido pela ciência.
Ana Carla ofereceu uma categoria para explicar como silêncio, tempo e incerteza se cruzaram no nascimento de Mikael na relação com as equipes de saúde. Mikael foi o recém-nascido com quadro mais grave da síndrome congênita de zika da Associação em Alagoas (e a primeira criança a ter acesso público e gratuito aos serviços de habitação e home care): “As pessoas davam tempo de vida ao meu filho". “Dar tempo” era calcular a sobrevida, estimar a morte iminente, o que demandaria afastar Ana Carla do filho, impedindo-a, por exemplo, de amamentar. “Dar tempo” passou a significar o prognóstico de Mikael de vida breve, por isso Ana Carla ouvia de vizinhos ou familiares que “não criasse apego” à criança. O conselho seria como um mandato de proteção ao luto iminente.
“Criar apego” é uma expressão que pode ser descrita como comum à cultura brasileira dos afetos e dos cuidados. Ana Carla nos lembrou como é usada para descrever a relação entre humanos e não-humanos: o ciclo de vida breve de um animal doméstico, por exemplo, é ponderado à decisão de adotá-lo em uma família, pois o tempo de vida mais curto que o dos humanos levaria a uma projeção de sofrimento pela morte. Ao “dar tempo” a Mikael, a equipe de saúde silenciava sobre a condição de saúde, ou mesmo dificultava que Ana Carla e o marido se aproximassem da criança. “Eu tive que explicar a eles que era muito simples terem me dito: ‘seu filho é especial’. Eu queria que parassem com isso de dar tempo de vida a Mikael. Do que eles tinham medo? Que eu o abandonasse? Que eu sofresse?".
Ana Carla rejeitou o vazio de tempo e o silêncio impostos pelas equipes de saúde sobre seu filho –para isso tomou para si os cuidados intensivos fora do controle hospitalar. Com a Associação Famílias de Anjos (AFAEAL), Ana Carla iniciou a disputa sobre quem e onde cuidaria de Mikael –se em home care ou em uma UTI de hospital. Com outras mulheres, uma ciência doméstica para o zika foi posta em curso, desenhando uma clínica da maternidade, com intenso compartilhamento de informações pelos grupos de WhatsApp. O curso da síndrome congênita do zika era desconhecido da ciência e foram as mulheres as pioneiras em identificar, filmar e compartilhar entre si mesmas as primeiras convulsões, engasgos ou técnicas de alimentação por sonda. A chegada aos serviços de saúde ocorria em um tempo posterior à checagem da ciência doméstica, um conhecimento produzido por cada mulher no exercício da clínica da maternidade com sua criança.
As três mulheres rememoram diversos eventos em que os filhos foram “desenganados” pelas equipes de saúde, isto é, tomados como sem chance de sobrevivência, e foram elas que os “salvaram”, devolvendo-lhes o tempo da vida. Ana Carla enumera três situações em que a equipe de home care deu seu filho como morto e foi ela quem insistiu em técnicas de ressuscitação ou desengasgo, aprendidas em aulas virtuais no YouTube ou com outras mulheres pelos grupos de WhatsApp. Foi nessa vivência do tempo contínuo do cuidado que a zona de habitação comunitária facilitou a criação de outro tempo e espaço de sobrevivência, em particular com o atravessamento da pandemia de covid-19. Sobre a centralidade dos espaços de convivência comunitária, uma das demandas da Associação foi por prioridade no acesso às residências sociais oferecidas pelo governo federal, no Programa Minha Casa, Minha Vida. Trinta e quatro mulheres receberam residência gratuita e são vizinhas em uma mesma comunidade habitacional urbana. Dentre as regras de recebimento do benefício habitacional está que a pessoa precisa residir na casa e não pode vendê-la pelo prazo de dez anos.
A casa já era o espaço de convivência antes das regras de distanciamento social da pandemia de covid-19. A restrita acessibilidade para pessoas cadeirantes é uma realidade de bairros periféricos urbanos no Brasil, e não é diferente nos prédios de habitação comunitária onde as mulheres passaram a viver. Mesmo com residências situadas nos apartamentos térreos para facilitar o trânsito das cadeiras de rodas ou a movimentação com as crianças no colo, uma nova geografia do cuidado foi posta em prática. A chamada “condição respiratória prévia” das três crianças, e comuns às crianças com síndrome congênita do zika, fez com que o espaço de vida fosse reduzido ao quarto da casa para evitar riscos de infecção pelo covid-19.
Ana Carla, Dayane e Cleidiane descrevem o tempo de covid-19 como o de resistência à hospitalização. Toda e qualquer intercorrência respiratória das crianças, que são recorrentes pela singularidade da síndrome ou dependência dos aparelhos, foi assumida pelas equipes de saúde como infecção por covid-19 mesmo sem testes comprobatórios da doença. Os filhos somente foram internados em eventos clínicos graves, pois as mulheres antecipavam que sem a clínica doméstica da maternidade a sobrevida das crianças poderia ser abreviada: “Parecia que Mikael não tinha direito a um leito na pandemia", explicou Ana Carla.
Respostas
É na posição de sujeito político que as três mulheres fazem uso da cronologia oficial para demandar os direitos de cuidado das crianças: elas foram vítimas da epidemia de zika e suas crianças foram “especiais". Início e pico da emergência em saúde coincidiram com a gravidez e o nascimento das crianças. No campo político, as mulheres disputam a cronologia do fim –o fim decretado pelas políticas nacionais e globais de saúde não significou o término da experiência vivida ou das necessidades de vida. Ao contrário. É para “depois do fim” do calendário oficial que se estende a experiência vivida de maternagem de uma “criança especial".
Se para os movimentos sociais de pessoas com deficiência no Brasil, a linguagem “pessoa especial” é considerada inadequada, assim não o é para as mulheres da Associação. “Especial” não é um qualificador da criança; é parte de sua ontologia. O composto “especial pelo zika” é a inscrição da gênese e da permanência dos efeitos da epidemia nas mulheres e nas crianças. É assim que o calendário oficial é adotado estrategicamente pelas mulheres para a atuação política por direitos –o início da emergência é uma temporalidade em comum acordo entre a dramaturgia das emergências e o vivido, mas o fim é um marco em disputa.
As mulheres adotam o calendário epidêmico para situar as necessidades de vida de seus filhos especiais: a condição “especial” foi causada pelo zika e pelo estado de epidemia no país. O calendário epidêmico operou como um marco de poder para a negociação da subjetividade política das mulheres. “Especial não significa melhor que ninguém, menos ainda quer dizer privilégio. É só que ela é diferente e foi zika que causou”, explicou Cleidiane. A maternidade de uma criança especial, por um lado, posiciona as mulheres no calendário da epidemia, mas por outro as aproxima de outras mulheres de maternidade atípica, ou seja, com outros tempos e marcos para calendarizar o cuidado em uma ordem social capacistista.25
Para as três mulheres, a clínica da maternidade é que manteve seus filhos vivos. O hospital foi descrito como o lugar onde “crianças especiais são rejeitadas", em que se aliena as mulheres do cuidado. Ao relatarem a morte dos filhos, as três mulheres contaram como resistiram em interná-los e como um “erro médico" para Dayane, “negligência médica" para Cleidiane e “descaso” para Ana Carla aceleraram a morte de seus filhos. Para as mulheres, as crianças não morreram pelo ciclo natural da síndrome congênita do zika; pois elas não imaginariam um “fim” natural para os recursos de cuidado da clínica da maternidade. Segundo as mulheres, Mikael, Emerson e Katlyn morreram em um tempo acelerado do fim por serem “crianças especiais” em regime de hospitalização.
O fim do calendário epidêmico foi um tempo para constituição da subjetividade política para as mulheres –as “mães de zika”, como são conhecidas, e a formação de dezenas de associações de mulheres para a defesa de direitos. A Associação de Alagoas é uma das mais atuantes no país e esteve ativa no processo de inclusão das crianças no mais importante programa de transferência de renda para pessoas extremamente pobres no Brasil (Benefício de Prestação Continuada, BPC) e na elaboração de uma lei federal de reparação financeira para as crianças afetadas pela epidemia de zika. Enquanto vivas, as três crianças foram beneficiárias do BPC, no valor de um salário-mínimo mensal. Para que as crianças fossem beneficiárias, as mulheres não poderiam realizar atividades remuneradas, de modo a manter a renda familiar abaixo da linha de pobreza, critério para inclusão no programa. Além do que, as crianças exigiam cuidados intensivos e permanentes. Com a morte da criança, o benefício foi suspenso, causando um impacto financeiro nas famílias e um desamparo às mulheres, cuja inclusão no mundo do trabalho remunerado se interrompera pelos anos de cuidado.
No tempo do início e do pico da epidemia, em 2016, conversas sobre ações de reparação financeira pelos efeitos de zika na saúde das mulheres e das crianças foram ignoradas, sob a justificativa de que “parece até que estou rejeitando meu filho", como dizia Ana Carla. Somente no tempo depois do fim, com a atuação de várias associações no país e a projeção política das mulheres, que a lei de reparação para as crianças de zika se anuncia como realidade no Brasil. Além disso, com a interpretação restritiva de que o benefício de transferência de renda é para a criança com deficiência e não também para a cuidadora, as mulheres se viram em uma situação ainda mais precária de pobreza com a redução da renda familiar e a falta de qualificação ou experiência para o mundo do trabalho. A discussão sobre a desproteção vivida pelas cuidadoras de crianças com deficiência ou de pessoas afetadas por emergências sanitárias está na agenda de negociações políticas no Brasil com forte atuação da Associação.
O projeto de lei 6064/23 foi vetado pelo governo federal e retornou para o senado federal. O projeto considera a criança como sujeito de direito para acesso à reparação financeira, excluindo a mulher. Para Ana Carla, Cleidiane e Dayane, a reparação direcionada às crianças é considerada justa, até mesmo porque não há separação entre o ocorrido com as crianças e com elas mesmas. No entanto, a presunção de que a criança tenha que estar viva para o direito à reparação é contestada. O valor da reparação é de R$ 60 mil reais (U$10,000), o que é significativo para as famílias.
O reconhecimento do direito à reparação para Mikael, Emerson e Katlyn é mais do que uma demanda financeira sobre os impactos de uma epidemia evitável em suas crianças, é principalmente uma identificação política das três mulheres no tempo histórico da epidemia de zika no Brasil. É também sobre elas e sobre suas experiências vividas como mulheres afetadas por zika; “reparação”, dizem elas, “é sobre o que aconteceu conosco e com nossos filhos e não importa o tempo que elas nasceram ou morreram". Ou seja, há uma compreensão da permanência dos efeitos do calendário epidêmico, mesmo para as mulheres cujos filhos já faleceram, a quem se poderia projetar um “fim” inconteste, ou para crianças que nasceram depois do fim do calendário de reparação do projeto de lei.
Depois do fim
O acompanhamento etnográfico nos permitiu problematizar como o calendário epidêmico conforma subjetividades políticas para as demandas por direitos ou reparações, mas também como o calendário vivido da maternagem e do luto escapam à linearidade da dramaturgia das emergências. Os tempos da dramaturgia são eventos políticos e, portanto, extrapolam os descritores epidemiológicos sobre riscos e urgências pautados pela biologia das doenças ou pelas necessidades de cuidados populacionais. No caso da epidemia de zika, o calendário da emergência não teve início quando a primeira mulher grávida adoeceu de um arbovírus ainda desconhecido no país; quando o primeiro recém-nascido com microcefalia nasceu; ou quando a ciência publicou um estudo de caso demonstrando a transmissão vertical de zika. É somente após o decreto do calendário de emergência que o tempo biopolítico pôde coincidir com o tempo vivido pelas primeiras comunidades e pessoas afetadas. Ou seja, é com o calendário oficial que as pessoas de uma população passam a existir politicamente como sujeitos com necessidades legitimadas e reconhecidas pelo poder público.
A dramaturgia é um enquadramento narrativo em que diferentes elementos são combinados para demarcar os tempos curtos, estendidos, interrompidos ou repetitivos de uma emergência sanitária. É o recurso à dramaturgia que sinaliza que uma doença alcança a escala biopolítica de pandemia ou de epidemia, que se transformou em endemia ou que foi erradicada. A posição de uma doença na narrativa dramática movimenta recursos financeiros, pesquisas acadêmicas e notícias; políticas públicas nacionais e globais de saúde; afetos e comportamentos, como o luto, o medo, a xenofobia ou a solidariedade. Porém, são crescentes as análises sobre como o enquadramento da dramaturgia seria insuficiente para compreender o impacto das emergências sanitárias em diferentes países, comunidades ou pessoas afetadas.
Se os tempos de uma emergência sanitária convocam todas as pessoas expostas ao risco de adoecimento a se localizarem na cronologia do início, do pico ou do fim, as formas de criar e viver subjetividades sobre o tempo vivido não são lineares tal como imaginado pelo enquadramento da dramaturgia. No caso da epidemia de zika no Brasil, os tempos das mulheres ora dialogam com a cronologia oficial, ora a ignoram ou mesmo a rejeitam. Com este estudo, esperamos ter contribuído para uma crescente agenda de pesquisas sobre temporalidades e emergências sanitárias, em particular sobre os sentidos vividos “depois do fim” para as pessoas e comunidades afetadas.
Agradecimentos:
Este trabalho foi financiado pelo Welcome Trust 225238/Z/22/Z.
Debora Diniz agradece à estadia no Universidade de Tokyo, em especial ao professor Akinori Hamada.
Retenção de direitos:
Para fins de Acesso Aberto (Open Access), o autor aplicou uma licença Creative Commons Attribution (CC BY) a qualquer versão do Manuscrito Aceita pelo Autor decorrente desta submissão.
Referências
1. Diniz D. Zika: do sertão nordestino à ameaça global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 2016.
2. Marbán-Castro E, Goncé A, Fumadó V, Romero-Acevedo L, Bardají A. Zika virus infection in pregnant women and their children: A review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2021;265:162–8. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2021.07.012.
3. Rosenberg CE. What is an epidemic? AIDS in historical perspective. Daedalus 1989;118:1–17.
4. Greene JA, Vargha D. How Epidemics End. Boston Review 2020. https://www.bostonreview.net/articles/jeremy-greene-dora-vargha-how-epidemics-end-or-dont/ (accessed February 1, 2025).
5. Bastos C. The Never-Ending Poxes of Syphilis, AIDS, and Measles. Centaurus 2022;64:155–70. https://doi.org/10.1484/J.CNT.5.129634.
6. Charters E. Information, Expertise, and Authority: The Many Ends of Epidemics. Centaurus 2022;64:15–30. https://doi.org/10.1484/J.CNT.5.130193.
7. Gostin LO. The Coronavirus Pandemic 1 Year On—What Went Wrong? JAMA 2021;325:1132. https://doi.org/10.1001/jama.2021.3207.
8. Moon S, Sridhar D, Pate MA, Jha AK, Clinton C, Delaunay S, Edwin V, Fallah M, Fidler DP, Garrett L, Goosby E, Gostin LO, Heymann DL, Lee K, Leung GM, Morrison JS, Saavedra J, Tanner M, Leigh JA, Hawkins B, Woskie LR, Piot P. Will Ebola change the game? Ten essential reforms before the next pandemic. The report of the Harvard-LSHTM Independent Panel on the Global Response to Ebola. The Lancet 2015;386:2204–21. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00946-0.
9. Djaafara BA, Imai N, Hamblion E, Impouma B, Donnelly CA, Cori A. A Quantitative Framework for Defining the End of an Infectious Disease Outbreak: Application to Ebola Virus Disease. Am J Epidemiol 2021;190:642–51. https://doi.org/10.1093/aje/kwaa212.
10. Diniz D, Brito L, Carino G, Santos AH dos. Oropouche fever in Brazil: When the time is now. Dev World Bioeth 2024;24:137–8. https://doi.org/10.1111/dewb.12463.
11. Diniz D, Brito L, Griner A, Kingori P, Ogden R. Additional lessons to prepare for rapid research response to possible vertical transmission of Oropouche virus in Brazil. Lancet Infect Dis 2025;25:e9. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00770-9.
12. Brasil. Situação epidemiológica da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika: Brasil, 2015 a 2023. Boletim epidemiológico 5, Vol 55 2024;55.
13. Brasil. Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Zika Vírus, Brasil. . Http://TabnetDatasusGovBr/Cgi/TabcgiExe?Sinannet/Cnv/ZikabrDef n.d.
14. Martins-Melo FR, Carneiro M, Ramos AN, Heukelbach J, Ribeiro ALP, Werneck GL. The burden of Neglected Tropical Diseases in Brazil, 1990-2016: A subnational analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. PLoS Negl Trop Dis 2018;12:e0006559. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006559.
15. Diniz D. Zika. Brasil: Itinerante Filmes; 2016.
16. Diniz D. Zika em Alagoas: a urgência dos direitos. Brasília: LetrasLivres; 2017.
17. Fassin D. True life, real lives: Revisiting the boundaries between ethnography and fiction. Am Ethnol 2014;41:40–55. https://doi.org/10.1111/amet.12059.
18. Diniz D. Bioethics and witnessing. Dev World Bioeth 2023;23:295–295. https://doi.org/10.1111/dewb.12432.
19. Diniz D. Ela, Zefinha? O nome do abandono. Cien Saude Colet 2015;20:2667–74.
20. Gumieri S. A economia moral do aborto nas mortes maternas por covid-19 no Brasil: um estudo sobre criminalização do aborto e justiça reprodutiva. Universidade de Brasília, Tese, 2024.
21. Mlakar J, Korva M, Tul N, Popovi? M, Poljšak-Prijatelj M, Mraz J, Kolenc M, Resman Rus K, Vesnaver Vipotnik T, Fabjan Vodušek V, Vizjak A, Pižem J, Petrovec M, Avši? Županc T. Zika virus associated with microcephaly. New England Journal of Medicine 2016:1–8. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1600651.
22. Fleischer S. Dando o sangue. CSOnline - REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 2022:63–87. https://doi.org/10.34019/1981-2140.2021.36428.
23. d’ Adamo A. Leve como ar. São Paulo: Todavia; 2024.
24. Moreira MCN, Mendes CHF, Nascimento MAF do, Melo APL de, Albuquerque M do SV de, Kuper H, Pinto M, Penn-Kenkana L, Moreira MEL. Stigmas of congenital Zika syndrome: family perspectives. Cad Saude Publica 2022;38:e00104221–e00104221. https://doi.org/10.1590/0102-311X00104221.